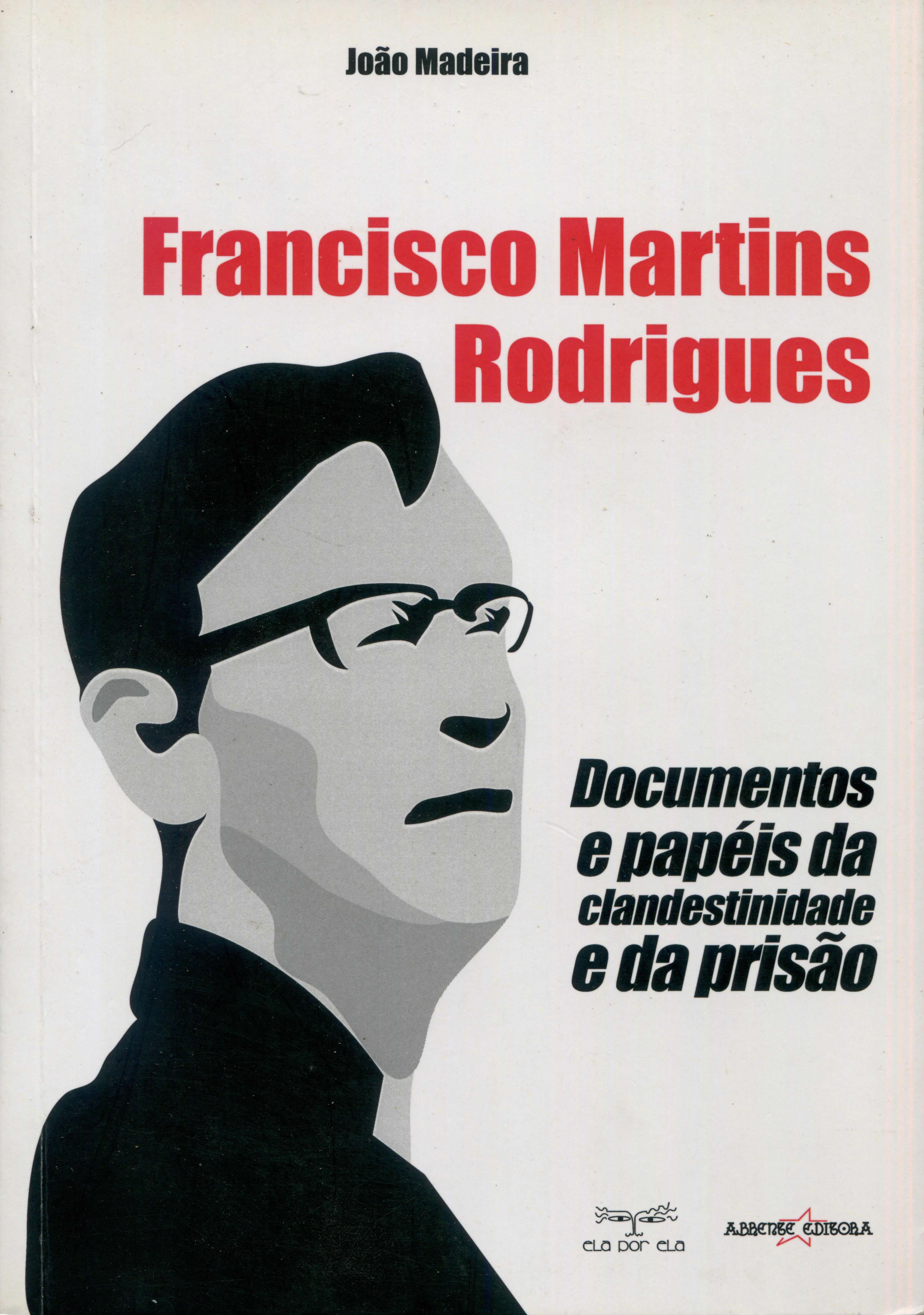
Há mais de 4 anos, os operários e camponeses de Portugal, obedecendo docilmente à sua burguesia nacional, empunham as armas contra os trabalhadores coloniais e sufocam pela violência a sua luta libertadora.
Enquanto os povos de Angola, da Guiné, de Moçambique, tomaram as primeiras filas da luta mundial contra o capitalismo e o imperialismo e estão na vanguarda do movimento revolucionário de libertação, os trabalhadores portugueses estão a desempenhar o papel de força de choque da reacção mundial, de cão de guarda fiel da burguesia nacional e do imperialismo estrangeiro, na guerra mais cruenta em que Portugal se tenha envolvido desde há séculos. Nenhuma atenuante pode ocultar a gravidade deste facto, que é uma tremenda acusação para o movimento revolucionário português.
É certo que estas guerras vão terminar pelo triunfo absoluto dos povos coloniais. É certo que a burguesia portuguesa, depois de perder estas guerras de opressão, acabará por sua vez por ser varrida pela revolução proletária em Portugal. Tudo isto é certo mas não pode diminuir a gravidade da situação a que nós chegámos:
1961 foi também neste aspecto um ano de viragem. Os militantes comunistas, os elementos progressistas, eram embalados no mito do povo português unanimemente antifascista e anticolonialista, caminhando unido e a passos largos para o levantamento nacional redentor. E foi quando começaram a chegar de Angola fotografias de soldados risonhos, apresentando cabeças de africanos espetadas nas baionetas. Isto tinha que provocar e provocou uma crise profunda na consciência de todos os operários revolucionários, de todos os verdadeiros antifascistas.
Se quisermos desenvolver uma verdadeira luta anticolonialista, temos que ser implacáveis a encontrar e arrancar as raízes da actual situação.
1. A UNIDADE ANTICOLONIALISTA
Durante as últimas décadas, veio-se desenvolvendo uma corrente ideológica, largamente espalhada nos sectores antifascistas, que atira as responsabilidades do colonialismo exclusivamente sobre o governo de Salazar, ou que, quando muito (quando pretende fazer-se acreditar como marxista), consegue ir até à denúncia da grande burguesia e do imperialismo estrangeiro, dando-nos o quadro dum colonialismo muito especial, quase à margem da sociedade portuguesa.
A acreditarmos nos defensores desta corrente, o trabalho escravo, os genocídios e a pilhagem das riquezas coloniais começaram verdadeiramente sob a ditadura de Salazar e aproveitam em exclusivo ao grande capital, nacional e estrangeiro. Quanto ao “povo português“ (entendendo-se nesta designação todos os que não fazem parte da grande burguesia e da clique fascista), estaria limpo de toda a mancha colonialista, seria alheio aos crimes cometidos sobre os povos coloniais por esse “punhado de multimilionários e degenerados“, condenaria unanimemente a exploração colonial.
Pretende-se assim que, uma vez derrubada a ditadura fascista, a questão colonial encontrará fácil solução por um acordo geral de todas as forças antifascistas quanto ao direito de independência dos povos das colónias. Para estes antifascistas, a luta contra o colonialismo português integra-se na luta unida de todas as classes contra a ditadura de Salazar e é apenas uma das suas facetas. Daí, naturalmente, que eles atribuam à luta armada dos povos coloniais a missão de colaborar no grande esforço comum pelo derrubamento da ditadura.
Manifestações desta ideologia podem encontrar-se, com diferentes matizes, nas mais diversas camadas da população, sendo expressas por dirigentes anti-salazariatas reconhecidos, como Cunha Leal, Álvaro Cunhal, Piteira Santos, etc. É isto que leva o Militante n.° 130 a constatar que “existe uma larga base de acordo sobre o problema colonial entre as principais forças da Oposição“.
A primeira questão a esclarecer, portanto, por quem pretenda encetar uma luta real contra o colonialismo é a de saber se Portugal é um país tipicamente colonialista, imperialista, opressor e escravizador de outros povos, ou se constitui, por qualquer razão, um caso à parte, uma excepção fugindo à lei geral.
2. O COLONIALISMO PORTUGUÊS NÃO É UMA INVENÇÃO DE SALAZAR
Para aqueles que vêem no colonialismo e na guerra colonial invenções diabólicas de Salazar e da sua camarilha, talvez provoque espanto a afirmação de que a ditadura de Salazar não é a causa mas o efeito do colonialismo português. É no entanto um facto histórico.
Desde que, no fim do séc. XIX, a burguesia obteve, como servidora e cúmplice do imperialismo inglês, uma presa colonial riquíssima em África, a exploração colonial passou a ter um papel determinante na evolução da nossa sociedade. Recordaremos só alguns factos que o comprovam.
Após o terreno ter sido “limpo“ pelas ferozes campanhas de “pacificação“ conduzidas por Mousinho, António Enes e Paiva Couceiro contra a resistência dos africanos, começam a instalar-se em Angola, S. Tomé e Moçambique grupos de roceiros e comerciantes que prosperam à custa da exploração ávida dos trabalhadores nativos. Em 1900 há já 20 mil ocupantes portugueses em Angola e entram no país 33 mil toneladas de géneros coloniais (cacau, borracha, café), que são em grande parte reexportadas. Moçambique é retalhado pelas companhias inglesas (Comp. de Moçambique, Comp. da Zambézia, Comp. do Niassa), abre-se às sociedades açucareiras, torna-se uma reserva de trabalhadores escravos para as minas do Rand (1909), o que alarga as oportunidades à fixação de colonos. Na costa ocidental fundam-se grandes companhias agrícolas (Comp. Agrícola do Cazengo, Comp. de Moçâmedes, Comp. da Ilha do Príncipe) e os ingleses abrem o caminho-de-ferro de Benguela. Nas roças de cacau em S. Tomé, sob um regime de trabalho mortífero que provoca protestos internacionais, acumulam-se grandes fortunas.
A exploração colonial foi, com a emigração para o Brasil, o alicerce da prosperidade comercial e industrial a partir de 1890 e do revigoramento da burguesia, que até aí não tinha mercado para se desenvolver.(1) Ela está na base das transformações sociais e políticas que levaram à instauração da República.
Compreende-se por isso que a burguesia republicana, engordada no suor e no sangue dos trabalhadores coloniais, tenha lançado o país na primeira guerra mundial imperialista, para que os ingleses lhe reconhecessem o direito de continuar a devorar tranquilamente a sua presa colonial. Esse crime cometido contra o povo português em nome da defesa da República (quase 23 mil mortos e estropiados nos campos de batalha em França e África)(2) – crime contra o qual há 40 anos não se eleva uma voz – foi também um crime contra os povos de Angola, Moçambique e Guiné, que sofreram novas campanhas de repressão feroz por parte das tropas portuguesas, sob a direcção superior de Norton de Matos.
Terminada a matança imperialista, que custou terríveis sacrifícios ao povo, a burguesia lançou-se com novo apetite à tarefa de roubar as matérias-primas coloniais para as revender ao estrangeiro a baixo preço ou para as laborar na indústria nacional. A exploração colonial conhece nova expansão. Entre 1916 e 1920 começam a fixar-se centenas de colonos nos cafezais de Angola. A CUF funda a sua empresa de navegação e lança-se na exploração das oleaginosas da Guiné (1918-1920). A Diamang, constituída em 1917 como filial da Anglo-American Diamond Corporation, obtém o exclusivo de pesquisa e extracção em 1921. O alto-comissário em Moçambique, Brito Camacho, garante à grande sociedade açucareira inglesa Sena Sugar Estates facilidades especiais para o recrutamento de trabalhadores indígenas (1921). Funda-se o poderoso Banco de Angola (1926). Sousa Machado funda a Companhia Mineira do Lobito, depois de ter acumulado uma fortuna em tráficos sombrios. Proíbe-se o fabrico de bebidas alcoólicas pelos indígenas, mas para abrir o mercado colonial às exportações de vinho. O regime da descentralização administrativa e dos altos-comissários, instituído pela República, vem dar nova amplitude à rapina colonial, acerca da qual se travam no parlamento sujos debates e querelas (como a que se travou em 1922 entre Cunha Leal e Norton de Matos).
A importância que ganhara a exploração está documentada neste balanço, dado em 1916:
“Quase toda a indústria fabril da Metrópole vive exclusivamente dos mercados das nossas colónias, assegurados pelo artifício do proteccionismo pautal. À sombra desse regime, empenharam-se imensos capitais; deslocaram-se dos campos milhares de braços que constituíram uma numerosíssima classe operária; estabeleceu-se a permuta com os produtos coloniais que por seu turno são reexportados dos portos do Continente para o estrangeiro; constituíram-se empresas nacionais de navegação; em resumo, se não toda, uma grande parte da actividade da Nação passou a ser exercida nesse intercâmbio“.(3)
Esta exploração frenética dos povos coloniais, levada a cabo sob palavras de ordem republicanas e democráticas, contribuiu de forma decisiva para a formação do primeiro núcleo da grande burguesia nacional (roceiros, comerciantes, latifundiários, industriais), que em 1926 lançou as bases do Estado fascista. A ferocidade do colonialismo fascista, que teve no Acto Colonial de 1933 a sua lei básica, não é mais do que a entrada do colonialismo português numa etapa superior, que viera sendo preparada através da monarquia e da República.
Àqueles que argumentam que atacar o colonialismo republicano é favorecer a propaganda fascista, responderemos que ocultar o passado do colonialismo português é ocultar a sua própria natureza e incapacitarmos-nos para um combate decisivo contra ele.
3. TODAS AS CAMADAS DA BURGUESIA SÃO INIMIGAS DO MOVIMENTO LIBERTADOR DAS COLÓNIAS
Que a burguesia não-monopolista tem actualmente interesses exploradores nas colónias e se opõe ao movimento de libertação em curso é um facto que ninguém se atreve a desmentir, mas que quase todos se esforçam por fazer esquecer.
Alega-se que a parte decisiva da exploração colonial está concentrada nas mãos dos grupos financeiros e do imperialismo estrangeiro, o que é incontestável; argumenta-se que a burguesia não-monopolista está disposta a encarar a abertura de negociações para pôr fim à guerra, o que é admissível; aponta-se a necessidade de explorar as contradições entre os sectores monopolistas e não-monopolistas da burguesia, o que é correcto. Mas se todas estas considerações não forem acompanhadas duma crítica à burguesia não-monopolista, o resultado inevitável será que o proletariado, situado no fundo da escala social, se transformará num instrumento político desta e será manejado por ela para levar a cabo a sua política colonial própria. É esta a razão por que insistimos em averiguar os interesses coloniais, não só dos monopólios e do imperialismo, como da burguesia não-monopolista. Os adeptos da “Unidade“ que nos desculpem.
A burguesia não-monopolista tem a sua parte nas roças coloniais. Se considerarmos o caso do café de Angola, o mais característico, verificamos que, dos 370 mil hectares de cafezais apropriados em 1962 pelos colonos, cerca de 200 mil pertenciam à “pequena e média propriedade“ (roças até 300 hectares) e exploravam o trabalho de muitos milhares de africanos.(4) Como se sabe, no sisal, no cacau, na criação de gado, etc. os pequenos e médios colonos têm igualmente a sua parte, tanto em Angola, como em Moçambique, em S. Tomé ou na Guiné. O facto de estes milhares de pequenos e médios roceiros estarem inteiramente subordinados às grandes companhias (fixação de preços, mercados, contratos de mão-de-obra, etc.), não altera em nada a sua existência como uma camada da pequena e média burguesia colonialista, com os seus interesses próprios.
É também a burguesia não-monopolista que explora no essencial o comércio colonial a retalho. As grandes e médias companhias, que dividem entre si o exclusivo da importação e exportação, contactam directamente empresas médias que controlam a distribuição para os comerciantes em zonas inteiras; estes comerciantes fazem a venda directa ao público ou servem ainda de intermediários a outros vendedores menos importantes. Daí que o preço das mercadorias aumente largamente das cidades para as vilas e destas para as zonas rurais mais afastadas. Nas condições da dominação colonial, esta rede de comerciantes e distribuidores rouba por todos os meios os trabalhadores africanos. Não devemos além disso esquecer que, neste ambiente de pilhagem generalizado, muitos funcionários, artesãos e camponeses-colonos conseguem amealhar um pecúlio e ascendem à burguesia, o que lhes seria impossível em Portugal. Tudo isto contribui para alargar a mentalidade burguesa à grande massa dos colonos.
Em Portugal existe também um sector apreciável da burguesia não-monopolista que vive, total ou parcialmente, da exploração dos povos coloniais. Participando no capital das grandes sociedades anónimas, formando empresas comerciais ou industriais dedicadas ao mercado colonial, esses capitalistas criam naturalmente os seus interesses colonialistas próprios. Lembremos os nomes bem conhecidos de Cunha Leal, Acácio Gouveia, Azevedo Gomes, Adão e Silva, para documentar esses interesses colonialistas.
Por fim, só teremos uma noção aproximada dos interesses colonialistas da burguesia não-monopolista se considerarmos que nenhum sector da burguesia pode dessolidarizar-se totalmente da exploração colonial, mesmo que dela não tire benefícios directos. É preciso compreender que nenhum burguês, seja ele pequeno, médio ou grande, pode ser indiferente ao destino de um dos pilares em que assenta o sistema capitalista nacional. É sobre o regime colonial que está construída toda a estrutura comercial, industrial e uma parte da estrutura agrícola; é dele que dependem os fornecimentos de matérias-primas, os mercados e a animação geral dos negócios. O pequeno e médio capitalista, que teme mais do que tudo a crise, não pode desejar o fim do sistema colonial, que trará a crise e, primeiro que todos, para os pequenos.
Por isso, se a burguesia não-monopolista tem de facto antagonismos agudos com os monopólios e o imperialismo estrangeiro, que a expulsam da competição no mercado colonial e á forçam a contribuir para as despesas da guerra, esses antagonismos não podem transformar-se em anticolonialismo consequente, e apenas a levam a procurar a via do neocolonialismo “liberal“.
Os pontos de vista destas camadas burguesas quanto à questão colonial estão formulados, por exemplo, no “Programa para a Democratização da República“. Num capítulo dedicado à “Política ultramarina“, defendia-se a “eliminação das barreiras alfandegárias entre a Metrópole e o Ultramar“, a “coordenação entre as economias metropolitana e ultramarina“, a unificação das moedas, a descentralização administrativa, etc., isto é, todas as medidas que se consideravam necessárias ao crescimento da burguesia colonialista. O seu “repúdio de qualquer manifestação de imperialismo colonialista“, as suas promessas de melhores condições sanitárias e culturais para as populações, a sua defesa de instituições democráticas nas colónias (!), resultavam naturalmente da busca de uma base de apoio na luta contra a grande burguesia.
Desde que eclodiram as insurreições coloniais, a burguesia liberal procura penosamente adaptar as suas palavras de ordem à nova situação. Na carta de 14 de Abril de 1964 a Salazar, os membros do Directório defendem a “autodeterminação“... “realizada pelo governo português“ e reclamam “a dignificação dos povos colonizados pelos próprios que no passado os colonizaram“... Isto é bastante eloquente, sem falarmos já nas propostas de Cunha Leal para salvar o colonialismo.
Não insistiremos em vincar um fenómeno que não necessita de demonstração: o facto de que, num país imperialista, todas as camadas da burguesia têm interesses colonialistas e são portanto inimigas do movimento de libertação dos povos oprimidos, a quem procuram sufocar pelas armas, pela corrupção ou pela demagogia. Estes elementos podem servir contudo para pôr bem em relevo o absurdo de se pretender levantar a luta anticolonialista sem focar os interesses exploradores da burguesia não-monopolista.
4. HÁ CHAUVINISMO ENTRE O POVO?
Sim, há e nada mais reaccionário do que pretender ocultá-lo, sobretudo na época actual. Contudo, aparecem anti-salazaristas a pretender convencer-nos de que o povo português não está infectado por ideias imperialistas e repudia unanimemente a exploração colonial. Seria caso para nos maravilharmos com o milagre de um dos povos com maior tradição imperialista na história estar imunizado contra o chauvinismo.
O chauvinismo imperialista existe porque os interesses colonialistas da burguesia não podem deixar de se projectar ideologicamente a toda a sociedade. O proletariado e as massas populares só poderiam estar isentos de chauvinismo se não recebessem diariamente o contágio pelas camadas burguesas que lhe estão mais próximas e com as quais muitas vezes se entrelaçam (lembrem-se, por exemplo, os casos de famílias de operários e camponeses pobres que recebem rendas de familiares em África; recorde-se o agrado com que famílias de camponeses pobres de certas regiões receberam a mobilização dos soldados, que lhes veio trazer uma ajuda financeira para manter as suas explorações arruinadas).
Ao longo dos séculos, formou-se e sedimentou uma ideologia imperialista que se recebe na escola, na imprensa, na vida diária, que penetra por toda a parte sem sequer ser notada. A cada passo se podem ouvir a pessoas progressistas conceitos imperialistas. E o facto de Portugal ser um país dependente do imperialismo estrangeiro ainda mais contribuiu naturalmente para exacerbar esse chauvinismo imperialista, como uma forma de compensação para as humilhações sofridas.
É certo que o facto de o povo não ter que afrontar no seu próprio território a concorrência da mão-de-obra colonial e de os trabalhadores coloniais serem praticamente desconhecidos (ao contrário do que sucede, por exemplo, em França), não deu lugar a manifestações agudas de racismo nos séculos recentes. Esse é um fenómeno que deixa maravilhados os nossos pequenos burgueses, que o citam com alvoroço como uma prova da “mentalidade rasgada“ do povo português.
Qual era contudo a base da complacência com que era aceite o africano em Portugal? Ele nada tinha de emancipação do espírito chauvinista; ela era, pelo contrário, a complacência que se tem pelos animais de trabalho: um certo afecto misturado de desprezo e repulsa física, que se escondia polidamente para não os magoar (“coitados, não têm culpa de ser pretos“) e uma certa má vontade também contra a sua “indolência“.
O português suportava a convivência do africano em Portugal porque sabia que em África lhe conseguia arrancar toda a espécie de riquezas sem resistência. Era, afinal, a gratidão do tigre pela vítima que se deixa devorar. Lá, em Angola, em Moçambique, na Guiné, é que se revelava a outra face desta complacência; aí, o pacífico comerciante, o camponês ignorante, o funcionário, o operário mesmo, corrompendo-se rapidamente, dão largas à sua avidez insaciável, têm pressa em enriquecer à custa do africano a quem obrigam a trabalhar a pontapés.
Foi preciso 1961 para revelar plenamente o ódio bestial, a selvajaria sem limites, o espírito de superioridade racial que séculos de colonialismo inocularam no povo; só isso permite compreender plenamente o fenómeno da “caça ao preto“.
É verdade que há entre o povo uma resistência geral contra a política colonial do governo, contra os seus slogans dum chauvinismo histérico e grotesco, contra a perspectiva duma guerra sem fim. Mas o que ainda não se provou é que por detrás dessa oposição ao governo não esteja latente um chauvinismo de expressão diferente, que se torna igualmente necessário combater.
Em conclusão: apesar das suas características específicas, Portugal não foge à lei geral dos países imperialistas, que formam ao longo dos séculos uma longa cadeia de cumplicidades na rapina dos povos subjugados e que contaminam com esse espírito todos os sectores da população. Do mesmo modo que na sociedade capitalista todos tèm um pouco da mentalidade do burguês, na sociedade capitalista-imperialista, todos têm um pouco da mentalidade do colono. É um facto incontestável.
5. A PENETRAÇÃO DO CHAUVINISMO NO MOVIMENTO OPERÁRIO
Se tomarmos em conta este fenómeno, não nos espantará que o chauvinismo tenha penetrado mesmo nos sectores avançados do proletariado e tenha tomado uma expressão elaborada sob a influência da corrente reformista de Álvaro Cunhal. Recordemos alguns factos.
Durante bastantes anos, a direcção do PCP seguiu a orientação de formar nas colónias secções do Partido Comunista, que promoviam o recrutamento entre os colonos, desenvolviam actividade nas associações e clubes e tentavam organizar a luta económica dos operários africanos. A experiência posterior mostrou que esta actividade, embora guiada pelo desejo de estabelecer laços com os povos coloniais para os despertar para a luta, tinha contudo graves inconvenientes: a propaganda conduzida pelos membros do povo opressor entre os povos oprimidos ia naturalmente contaminada de paternalismo e de chauvinismo, não conseguia apreender as reais necessidades do movimento libertador desses povos, tendia a semear as ilusões e o espírito de colaboração; contribuía-se assim para criar uma elite africana reformista e pacifista, que travava a ascensão das grandes massas oprimidas à luta pela independência e corrompia à nascença a formação duma ideologia nacional revolucionária.
A direcção do PCP, contudo, não conseguiu aperceber-se deste fenómeno nem procurou formas mais eficazes de ajuda aos povos coloniais. Pelo contrário, persistiu nesta orientação errada mesmo depois de 1945, quando se começou a tornar patente a formação dum grande movimento de libertação nacional dos povos asiáticos e africanos. Isto deu lugar a que os primeiros choques anunciadores das insurreições coloniais (Goa, S. Tomé, Angola) se dessem à margem da ajuda do PCP e mesmo em oposição com a linha seguida por este na questão colonial. Cerca de 1955, essa diferença de orientações era já evidente e causava mesmo certo mal-estar e contradições entre os lutadores coloniais e os comunistas portugueses.
Não admira que assim fosse. Enquanto se atribuía aos povos coloniais a missão de lutar ao lado do povo português contra a ditadura de Salazar, “pela Democracia, pela Paz, pelo Pão“ (informe à 4.ª reunião ampliada do Comité Central do PCP); enquanto se incluía na Comissão Central do MUD Juvenil (movimento democrático e patriótico da juventude portuguesa) um representante da juventude das colónias (!); fazia-se ao mesmo tempo uma oposição encarniçada à criação de movimentos de libertação dos povos subjugados e desenvolvia-se uma activa campanha contra os primeiros núcleos marxistas de africanos residentes em Portugal, atacados como “pretensos teóricos que queriam fugir à luta antifascista“.
Este chauvinismo, que atrasou a formação dos movimentos de libertação das colónias, cobria-se com o argumento de que conceder autonomia aos africanos para organizarem a sua própria luta pela independência seria facilitar a substituição do imperialismo português pelo imperialismo inglês ou americano. Esquecia-se que, no espaço de poucas décadas, o movimento de libertação dos povos oprimidos saíra da infância e era já, depois do triunfo da grande revolução chinesa, uma das maiores forças revolucionárias mundiais. Encaravam-se os problemas e aspirações dos povos coloniais pela óptica da Unidade anti-salazarista. Não se compreendia que os revolucionários portugueses não tinham qualquer direito de tutela sobre os movimentos revolucionários de outros países. Na realidade, instalara-se a ideia de que os povos coloniais eram um apêndice do povo português, eram mais uma “força de choque“ em potência a mobilizar ao serviço da “Unidade“. Como se vê, o chauvinismo imperialista encontra sempre a forma de se insinuar, mesmo sob frases revolucionárias e a pretexto de “ajuda fraterna aos povos das colónias“.
Em 1957, finalmente, o 5.º Congresso do PCP pôs de lado a velha orientação de subordinar a luta colonial ao controle do partido e reconheceu aos povos coloniais o direito de organizarem os seus próprios movimentos de libertação. Poderia julgar-se que esta resolução marcava o início duma autocrítica aos erros e desvios anteriores. De modo nenhum. A resolução do 5.° Congresso marca, pelo contrário, o amadurecimento do chauvinismo na direcção revisionista, a sua adaptação às novas condições, a sua passagem a uma nova etapa de maior virulência. Não tendo aprendido nada dos grandes movimentos insurreccionais que, a partir de 1961, abalaram as colónias e vieram rasgar novas perspectivas à luta do proletariado português, os revisionistas têm vindo a trabalhar, com o afinco de pequeno-burgueses que desconhecem o sentido do internacionalismo, pelo seu objectivo de sempre: utilizar o movimento colonial como uma pedra no seu jogo “unitário“ anti-salazarista.
6. COMO O REVISIONISMO ENTRAVA A FORMAÇÃO DUM FORTE MOVIMENTO POPULAR ANTICOLONIALISTA
Desde o começo das guerras coloniais, a direcção revisionista tem seguido a táctica de esconder as graves fraquezas do movimento anticolonialista no país, de fugir ao problema do chauvinismo imperialista, e pretende demonstrar a existência de grandes acções do povo contra a guerra e pela independência das colónias.
A cada passo, são testemunhos fervorosos de amor pelos povos coloniais, garantias solenes de solidariedade total, invenções de gigantescas lutas anticolonialistas do povo. O Militante deixa-se arrastar por este clima até ao ponto de afirmar tranquilamente que “a luta contra a guerra colonial tornou-se um centro onde vão dar todas as lutas da classe operária e do nosso povo“.
Certos comunistas que criticam essas deturpações da realidade acreditam, contudo, que elas são devidas ao desejo de estimular o movimento popular e não compreendem que o objectivo da direcção revisionista é fabricar um movimento anticolonialista comum ao proletariado e à burguesia, dentro do esquema da Unidade, o que os obriga a fazer silêncio sobre os interesses colonialistas da burguesia anti-salazarista, a ignorar o chauvinismo infiltrado nas massas e a falsearem portanto a realidade. Eles não podem criticar as fraquezas do movimento anticolonialista porque isso os obrigaria a criticar o movimento burguês e a traçar uma linha de acção independente para o proletariado.
É com esse fim que é cuidadosamente velada a exploração colonial da burguesia não-monopolista e que se pretende fazer crer que ela tem uma posição revolucionária na questão colonial (ver resolução da 2.ª Conferência da FPLN).
É com esse fim que se utilizam as relações com os movimentos de libertação como um capital para conquistar a aliança com os grupos burgueses anti-salazaristas, podendo dizer-se que a FPLN só existe graças a contratos desses, que permitem a políticos burgueses (Tito Morais, Piteira Santos, etc.) estabelecerem relações directas com os movimentos coloniais, por intermédio de Álvaro Cunhal.
Com esse fim, a direcção revisionista acedeu em 1961 a subscrever um comunicado conjunto com grupos burgueses de oposição, condenando o “terrorismo das organizações africanas“ (Tribuna Livre, Agosto 1961), fazendo depois uma precipitada rectificação, que não aflorou sequer a origem real desta traição ao internacionalismo (Avante, Setembro 1961).
Com esse fim, a direcção revisionista proibiu em 1961 que se fizesse uma crítica pública ao “Programa de Democratização da República“, alegando que não era a altura própria por se aproximarem as “eleições de deputados“, e faz desde então um prudente silêncio sobre as sucessivas declarações neocolonialistas dos políticos liberais.
Com esse fim, a direcção revisionista retirou da circulação, em Março de 1961, um manifesto apelando para os interesses revolucionários dos operários camponeses e soldados na luta contra a guerra, substituindo-o por outro onde a questão colonial foi posta na base da “Unidade“.
Com esse mesmo fim e dentro desse mesmo clima, permite-se que a direcção Regional da Beira Litoral do PCP edite em Maio de 1961 um manifesto onde se lê esta consigna: “Trabalhadores, mostremos aos nossos patrões que só a independência de Angola serve os seus interesses“ (!), e onde se explica aos capitalistas que, uma vez “independente“. Angola “se tornará de facto um mercado para os nossos artigos“ (I). A proposta para uma crítica pública a este manifesto é rejeitada.
Com esse fim ainda, omite-se a mais pequena critica ao colonialismo da República burguesa, e chega-se mesmo ao extremo de, num documento importante, se gabarem as reformas descentralizadoras da República nas colónias (reformas que intensificaram a ocupação colonial!). (“Sobre a Conferência dos 81 Partidos Comunistas e Operários“, documento do CC do PCP, 1961).
Dentro destes pontos de vista, discute-se em 1963 na direcção revisionista “o perigo do desencadeamento de acções de sabotagem em Portugal por parte dos movimentos coloniais“ e fala-se nas “contradições“ entre o movimento de libertação das colónias e o movimento antifascista português (!).
Não admira, nestas circunstâncias, que o movimento popular anticolonialista não tenha ainda registado importantes vitórias: ele está amarrado, tal como o movimento geral antifascista, ao lodo “unitário“ dos revisionistas.
7. O CHAUVINISMO REVISIONISTA NA SUA ETAPA SUPERIOR
A natureza real do anticolonialismo dos revisionistas portugueses está bem expressa no capítulo 6.° do relatório de A. Cunhal Rumo à vitória. Aí, Cunhal dedica duas linhas (num total de 13 páginas que tem o capítulo) para se referir à importância das guerras libertadoras conduzidas heroicamente pelos povos das colónias, enquanto gasta rios de tinta para denunciar a demagogia salazarista das “províncias ultramarinas“ (seria realmente necessário?), para reclamar “a instauração das liberdades e a libertação dos presos políticos das colónias (!), para protestar contra as más condições sanitárias em que vivem os trabalhadores africanos (como se o problema fosse de condições sanitárias!).
Dá vontade de perguntar: Já será do conhecimento do sr. Álvaro Cunhal que os povos das colónias encetaram insurreições armadas e que têm em curso guerras de libertação? Como é possível, a propósito da questão colonial, falar de tudo menos das insurreições coloniais? Como é possível subestimar de tal forma uma iniciativa revolucionária que representa a maior viragem nas perspectivas de luta do proletariado português depois da revolução socialista de Outubro de 1917?
Tudo isto é possível porque o anticolonialismo de Cunhal não vai além das vibrantes exclamações e das palavrosas denúncias. Embora jurando, de mão no peito, a sua solidariedade incondicional aos povos das colónias, ele é forçado a esbater as insurreições coloniais, que prejudicam a sua sonhada “Unidade de todos os portugueses honrados“ (de aquém e além mar) e a linha geral da “coexistência pacífica“. Cunhal é certamente contrário ao colonialismo, mas do mesmo modo que é contrário ao fascismo e ao imperialismo: com uma oposição que nunca é levada até às suas últimas consequências, que nunca se eleva acima das condenações moralizadoras de pequeno burguês progressista, que nunca é capaz de aprofundar os interesses de classe em presença, que nunca é capaz de estudar as questões (todas ao questões) em função dos interesses da ditadura do proletariado.
De facto, do ponto de vista dos revisionistas, a luta revolucionária dos trabalhadores coloniais, como toda e qualquer luta revolucionária, é um perigo a neutralizar, dado que “pode fazer recuar as forças intermédias e levá-las a cair nos braços do fascismo“. Proclamando a sua solidariedade à luta armada, eles esforçam-se por favorecer todas as correntes que lhes Parecem mais moderadas. Este facto tem sido comprovado pela experiência dos últimos anos. Fiel aliado e servidor da direcção do PCUS, Álvaro Cunhal tornou-se desde 1961 o agente e medianeiro desta junto dos movimentos libertadores das colónias portuguesas, trabalhando com constância para os desviar do seu objectivo, para os tornar uma mera força de pressão n° jogo da “coexistência pacífica“ e da “ cooperação soviético-americana“. Cunhal chegou já a imiscuir-se por diversas vezes nas questões internas do movimento colonial, indo ao ponto de tentar impor-lhes estes ou aqueles dirigentes sob a sua influência. É um facto da maior gravidade, acerca do qual os movimentos coloniais se pronunciarão na altura própria.
Sabemos que esta nossa crítica será acusada de “actividade criminosa, visando semear a desconfiança entre o movimento nacional libertador e a classe operária dos países capitalistas“. Isso não nos afecta. A linha dos revisionistas na questão colonial está já arquivada pela história com mais um entre tantos exemplos do chauvinismo imperialista pequeno-burguês, que se desenvolveu à sombra de sonoras frases comunistas. Há que dizê-lo publicamente.
8. LANCEMOS AS BASES DUM FORTE MOVIMENTO POPULAR ANTICOLONIALISTA
Num próximo artigo discutiremos o problema das formas de luta a adoptar pelo movimento popular anticolonialista. O nosso objectivo é neste momento lançar as bases para um combate ideológico intransigente ao chauvinismo, sem o que a luta contra a guerra e de solidariedade aos povos das colónias nunca poderá tomar verdadeira envergadura. É certo que é no decurso da acção que se dissipam muitas ideias reaccionárias entranhadas nas massas. Mas a acção não é possível se a vanguarda do proletariado estiver atascada no lixo do patrioteirismo e não souber tomar consciência de que os seus interesses na questão colonial são diferentes (e opostos em muitos aspectos) aos das outras camadas da população.
O chauvinismo é o veículo ideológico dos interesses burgueses. Toda a transigência com o chauvinismo é uma transigência com a linha burguesa e um abandono da linha proletária revolucionária. Consentir que o proletariado se sinta irmanado à burguesia nos interesses coloniais, mesmo só parcialmente, mesmo só por um instante, é golpear de morte o movimento revolucionário português, porque é ajudar a corromper o proletariado e incapacitá-lo para a sua tarefa histórica.
Enquanto não tiver a sua ideologia própria e a sua linha de acção própria na questão colonial, jamais o proletariado português estará em condições de derrubar a ditadura fascista e de exercer a sua ditadura, para construir uma sociedade nova. Eis o que nunca poderá ser compreendido pelos tristes apóstolos da Unidade anticolonialista.
É preciso dar a todos os comunistas portugueses a noção de que as guerras de libertação dos povos coloniais não são uma simples luta contra a ditadura salazarista, mas uma luta contra o sistema colonial português, contra a opressão secularmente exercida por Portugal sobre outros povos, e que esse facto coloca pesadas responsabilidades ao proletariado e ao povo português.