MIA > Biblioteca > José Chasin > Novidades
Fonte: A Foice e o Martelo
HTML: Fernando A. S. Araújo.
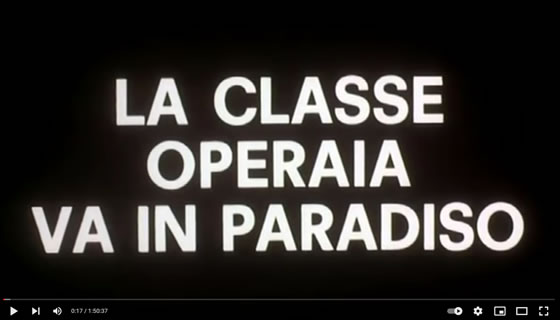
Dizer da "ingenuidade" metodológica que caracteriza boa parte da produção intelectual brasileira não é descobrir uma novidade, nem apontar um privilégio. Todavia, face a certas manifestações mais ostensivamente comprometedoras, não há como calar; o que não significa, no caso, a defesa de um dado método em especial (o que seria perfeitamente legítimo), mas a indicação crítica das conseqüências diluentes de certas formas de procedimento analítico, diluentes a ponto de subverter os significados e os propósitos do objeto estudado: concretamente o filme de Elio Petri — A Classe Operária Vai ao Paraíso.
Inegavelmente esta película sensibilizou certa parcela da intelectualidade nativa, a ponto de induzir alguns à reflexão "científica" e à expressão por escrito de suas opiniões. Eis que as críticas ficaram muito aquém do valor da obra criticada, tornando-se, desse modo, inúteis, não escapando à raquítica esfera do "achismo" — doutrina eclética que, ao não ser oportunista, só estampa a perplexidade da incompreensão.
A Classe Operária Vai ao Paraíso é ostensivamente a tentativa estética (entendida esta como forma categorial específica de apreensão da realidade) de demonstração de um "teorema" dialético: se a alienação é resultante necessária do processo histórico que tem na divisão social do trabalho aspecto fundamental, segue-se que a conquista da integralidade humana, a desalienação, só pode decorrer de uma prática que tem no próprio trabalho sua base real, sua protoforma.
Pode-se suspeitar da dialeticidade desta tese, em decorrência debatê-la e mesmo negá-la; pode-se ainda reconhecê-la como dialética, porém falsa; o que não é permissível, todavia, sob pena de fugir a um mínimo de objetividade, é desconhecer a proposta de Elio Petri, pois, "o papel do crítico não é dizer se ele vê o mundo da mesma maneira que o escritor(1), e sim compreender de modo imanente a estrutura e o universo da obra de que fala"(2).
Não foi assim, todavia, que procederam alguns dos principais comentaristas brasileiros do filme(3).
No curto espaço desta nota, filme e comentários passam à condição de objeto para a análise, se bem que a preocupação básica seja a crítica metodológica dos textos mencionados, ficando a reconstrução conceituai do filme, bem como a da tese que o informa, adstrita às necessidades daquela. Frise-se, então, que filme e tese não estão aqui em jogo, não se toma partido face a eles, não se discute sua qualidade ou correção, mas procura-se evidenciar como, por descaminhos metodológicos, fere-se claramente a integridade do objeto estudado, suprimindo mesmo seu direito à existência enquanto obra coerente, desrespeitada que é na sua autenticidade (relação entre proposta e realização do autor) pela própria inversão de seus significados imanentes, mesmo quando, e este é um dos casos, a crítica parece ser conduzida a partir de um posicionamento de agrado estético e temático para com a película.
Em última instância, trata-se de pôr em relevo, através de algumas observações relativas a um caso concreto, a impossibilidade de certo tipo de abordagem metodológica em dar conta do objeto que se propõe estudar, ficando implícita a rejeição às especulações que de modo confesso ou não "namoram" a ideologia da equivalência legal das "leituras", vincadas ao sincretismo pseudo-científico baseado em ponderações relativas à fertilidade ou não de perspectivas teóricas conflitantes aplicadas a terrenos supostos como divisíveis e distintos.
Goldmann, em várias oportunidades, insistiu na inobrigatoriedade do homem em agir e pensar de forma coerente, e estendeu esta reflexão da cotidianeidade também para os produtos científicos e artísticos, extraindo daí a conclusão de que a coerência é atributo raro de pouquíssimos autores excepcionais. Privilégio, portanto, raras vezes praticado. Goldmann falava principalmente a nível da totalidade das obras de um autor; mais fácil, evidentemente, é deparar com coerência quando se examinam obras isoladamente tomadas. Seja como for, talvez seja, esta, paradoxalmente, uma razão a mais a dificultar a correia compreensão de A Classe Operária Vai ao Paraíso, pois o que nela há de mais impressionante é precisamente sua rigorosa coerência, e isto, acentue-se de novo, independentemente do valor que se atribua a seus conteúdos.
Mas, afinal, de que trata o diretor italiano?
Diríamos, para surpresa (quem sabe?) de alguns, que Elio Petri pretendeu condensar a história atual do homem e, particularmente na sua concretude imediata, a do homem italiano. História, evidentemente, tomada como conceito científico, e não como narrativa factualista. Desse modo, distinguem-se três planos temporais, intimamente articulados, constitutivos da unidade processual do histórico. Militina é o passado imediato que interpenetra o presente encarnado em Lulu Massa; este abre para o futuro, retomando um desejo do primeiro — o desfranqueamento do muro. Sendo história que se pretende história da totalidade do real, a solução fílmica implica numa gama rica de manifestações que vão desde aspectos menores do psiquismo individual até a evidenciacão de problemáticas universais que se situam nas esferas do político, do econômico-social, do cultural, do tecnológico etc., e de quantas mais se queiram, a título de enumeração.
Em decorrência, A Classe Operária é um filme político? Claro que sim e que não; sim, na medida em que também é uma obra "econômica", "sociológica", "psicológica" etc.; e não, na medida em que é um filme acima de cada uma destas “partes" em especial, e de mera soma de todas elas em geral. Desse modo, privilegiar um de seus aspectos, tal como face à realidade, é pôr a perder a riqueza de seu todo, é diluir esse todo aos significados abstratos de uma das partes e, conseqüentemente, condenar-se à incompreensão.
É o que ocorre no artigo de J. C. B., onde, perdendo a dimensão da totalidade histórica, e agigantando a fração de uma parte (o tático na esfera do político) acaba por se envolver o articulista numa raquítica discussão de forma e conteúdo, concluindo por fim que obras como a de Petri lançam mão de uma "... dramaturgia tradicional (personagem individualizado, se possível ligado a uma vedete), abandonando outros recursos dramáticos eventualmente mais precisos para análise de uma situação social. . ."(4). Ora, só é possível imaginar Lulu Massa como personagem individual através de uma postura empírico-factualista: faz-se um registro, supostamente isento, dos "acontecimentos" que correspondem ao personagem, na forma de percepções isoladas, sem notar que a simples enumeração já não é vazia de determinantes explicativas; diante da lista dos eventos, pretendidos como meramente "postos" para a explicação, é então proposta a interpretação, entendida esta como operação intelectual distinta da primeira. O que pode ser uma explicação nestas circunstâncias? Simplesmente uma exterioridade à estrutura mesma em que os fatos são mostrados, ou pela reconstrução arbitrária (rearticulação) dos vínculos que os unem, ou pela acentuação privilegiadora de um deles. De qualquer forma acontecimentos, significados e intencionalidades ficam, então, dissociados e a explicação se desqualifica pela prática da imputação. É o que se dá quando J. C. B. atribui a um taticismo infantil a génese das concepções de Petri, afirmando que estamos diante de obra do tipo dos "... filmes programáticos que trazem, ou melhor, que ilustram um recado predeterminado...”. Empobrecendo o todo fílmico por meio de uma "leitura política", e reduzindo o político ao tático, J. C. B. condena-se à impossibilidade de alcançar as concretudes estéticas que se oferecem na tela e se vê obrigado, assim, a incursionar pelos caminhos dos "decifradores de almas": a imputação substitui a explicação. Em última análise, não podemos observar que eventos e personagens são elementos estéticos constituintes e constituídos por uma totalidade, J. C. B. retém somente as imagens e a sua sucessão aparente (reduz Militina, Lulu, etc. a meras individualidades(5); a sequência de acontecimentos que envolvem Massa passa a ser uma simples decorrência da pretensa lição ético-política que Petri desejaria pregar), e deixa escapar o eixo temporal fundamental: Militina e Lulu são momentos distintos da história de uma mesma humanidade. Este é parâmetro básico da obra de Petri, pois é dentro dessa temporalidade que tudo o mais ganha sentido. Como empiricamente pode haver a noção de sucessão de eventos, mas nunca a de processo histórico, um procedimento que parta dele, consciente ou inconscientemente, perderá a possibilidade de apreender a intencionalidade petriana. Não é Petri que lança mão de uma dramaturgia do personagem individual, é J. C. B. que, barrado metodologicamente, "inventa" o personagem individual. A partir daí tudo o mais fica comprometido, e J. C. B. vai entender, por exemplo, que de fato há estudantes no filme, quando Petri oferece todas as oportunidades para que o espectador compreenda que de estudantes aquele grupo, assim nominado, só tem o nome, melhor se diria — apelido; trata-se, isto sim, de um punhado de indivíduos desligados de qualquer forma de produção material ou espiritual, e que é caracterizado como uma sorte de lumpen-estudantado.Em (J.C. B.) "compra-se" esta pseudoconcreticidade porque através dela completa-se a polaridade exigida para o desenvolvimento da tese taticista, ficando inobservado que o tático se desenha no filme apenas como uma entre muitas preocupações, e o confronto "estudantes"-sindicatos é determinado acima da taticidade (voltaremos a isto mais adiante). Tornando o político (tático) totalidade, o autor não suspeita que privilegia um fator, desprezando a perspectiva mais ampla oferecida pela concretude fílmica. Esta, assim, se esvai, e pode-se, então, afirmar que "A clara finalidade didática dos filmes justifica o simplismo e a linearidade da demonstração".(6) Observe-se que a análise parte do propósito de "descobrir" para os outros (o crítico não nos diz como ele próprio efetuou a descoberta) a função da obra, e não a obra propriamente dita. A compreensão desta é dada como tranqüilo passo vencido. Ocorre, todavia que é exatamente a "elucidação" da funcionalidade que acaba por se transfigurar na chave cognitiva daquilo que é suposto como conhecido. Em outros termos, há para J. C. B. personagem individual, estudantes, lição ético-política etc, precisamente porque antes foi estabelecido que a função da película é didática, e não porque aqueles elementos sejam necessariamente legíveis na intimidade da estrutura da própria obra. Não se discute aqui da legitimidade analítica de desvendar funções, mas, considerando-se que isto só se torna pertinente quando entendido como a busca de significados numa estrutura dada, estando ambas submetidas ao evolver dos processos a que estão subordinadas será proveitoso observar que o articulista curiosamente chega, ao final, meio incerto com relação a que estrutura estava se reportando: "Mas a apelação é aceitável, considerando a finalidade militante do filme, o seu endereço preciso dentro de uma determinada situação social. Provavelmente, a "italiana". (O grifo é nosso). Por que a dúvida? Unicamente porque a função foi “deslindada” exteriormente à estrutura global italiana, ou a qualquer outra, e posteriormente justaposta àquela com certa vacilação. Pois tendo sido formulada abstratamente, a função definida fica a "exigir" um ponto de apoio (o filme é didático onde, quando e para quem?). Este apoio será oferecido igualmente de modo abstrato: afirma-se simplesmente que o contexto é a sociedade italiana (no caso, transforma-se um dado em conquista do conhecimento), como se poderia apontar, no interior de uma análise assim conduzida, qualquer outra, visto que o crítico não explica concretamente o filme pela sociedade italiana, e nem se poderia, hoje, imaginar uma sociedade que, dentre a infinitude de suas necessidades, dispensasse as específicas à mediação política. Isto é, na medida em que foi subtraída tanto a reconstrução conceitual da totalidade fílmica, como da sociedade italiana, sobre apenas o recurso de oferecer, como substituto, um abstrato universo tático (poderia ser qualquer outro, na medida em que se trata de uma eleição arbitrária), que pode ser ofertado como reedificação conceitual de qualquer realidade, porque não pertence especificamente a nenhuma. Tratando-se, então, de operar, em última instância, uma "escolha livre", a vacilação é sinal de honestidade, além de evidenciar que o autor foi vítima de seus pressupostos conscientes ou inconscientes.
Paralelamente à sua condição de instrumento didático, A Classe Operária é também para J. C. B. um produto do consumismo, decorrente do sistema comercial cinematográfico normal, "Mesmo que originalmente", como diz ele, "uma necessidade política italiana tenha levado a produção cinematográfica a tratar tais assuntos, estes filmes, percorrendo toda a cadeia distribuição-exibição e chegando ao Brasil, são antes filmes do que política". É um produto de consumo de tipo especial, pois se constitui em "álibi político", isto é, obras do tipo suscitam um debate que pode ser entendido como uma "... discussão abstrata (que) fornece um álibi político e é, portanto, um fenómeno de alienação...". É bem verdade que J. C B. classifica esta sua última reflexão como "uma hipótese de interpretação" mas considera sua hipótese reforçada porque estes filmes "não são proibidos, nem cortados" (a não ser insignificantemente), em síntese, "não incomodam".
Deixando de lado a curiosa maneira de entender o político — aquilo que necessariamente incomoda —, seria supérfluo, e mesmo tedioso detalhar a crítica para cada uma dessas afirmações, mesmo porque algumas delas, além de não serem obrigatoriamente falsas, fogem por inteiro dos objetivos destas observações. Teríamos em contrapartida que repetir a crítica à leitura política, ao surpreendente empirismo que J. C. B. assume neste seu artigo, etc. Acreditamos que basta dizer que nada há de estranho com filmes que sejam antes filmes do que política (é exatamente sua singularidade) e, nem considerado o mercado mundial de cinema, que uma película sofra as injunções próprias a todo valor de troca(7). O que talvez pudesse espantar, e nem mesmo isto, seria constatar a produção de filmes que, apesar da corrosão reificadora, conseguem alcançar a dignidade que se extrai do escrito de J. C. B.: o filme é ao mesmo tempo instrumento, didático e instrumento de alienação. Isto não será um grosseiro conflito, a nível dos conceitos, unicamente se a mensagem didática, ela própria, for determinada como alienante. Discutir isto, todavia, seria considerar que a interpretação alcançada por J. C. B., através de equívocos metodológicos, é pertinente ao significado intrínseco da obra de Petri; seria raquitizar a perspectiva globalizante deste em benefício do taticismo do crítico e, a uma esfera tática, ela mesma reduzida a uma simples trama de engodos, montada exclusivamente pela má fé. Voltaríamos, portanto, ao princípio.
Da mesma forma que a leitura política de J. C. B. não dá conta da integralidade da obra de Elio Petri, a leitura sociológica de Leôncio M. Rodrigues também não o faz. Ressalvadas as nítidas diferenças de padrão científico que separam, em favor do segundo, os dois ensaios, estamos, no entanto, diante de mais uma interpretação que não explica o filme, mostrando-se incapaz de integrar, na compreensão oferecida, todos os elementos concretamente apresentados pela obra. E isto, uma vez mais, por insuficiências do procedimento metodológico empregado.
Não é casual que em ambos os ensaios a figura de Militina desapareça, que seja excluída inteiramente da interpretação. Não existindo Militina inexiste também a possibilidade de tomar os eventos da trama em sua concatenacão temporal, no seu devir. Suprimido Militina, a narrativa se limita ao presente, o filme passa a ser, no máximo, uma descrição analítica unitemporal. "Os trabalhadores analisados por Petri (e trata-se bem de uma análise) são tipicamente operários especializados na realização de tarefas simples e repetitivas” (L. M. R.), que tem por fator causal a "... divisão tecnológica cada vez mais intensa do trabalho..." (L. M. R.). Isto é, A Classe Operária Vai ao Paraíso tem "o mérito de captar com sutileza não o andrajoso proletariado das sombrias fábricas do passado, mas a moderna classe operária que já ultrapassou a etapa da luta desesperada pela mera sobrevivência" (L. M. R.). Não se trata mais, portanto, do proletariado "classe-mártir e classe-herói" de antigamente, como diz este autor, mas de uma classe de trabalhadores cujo "dilema" deriva, pelo menos parcialmente, de sua dimensão "operária" e "classe-média" (L.M.R. — o grifo é nosso), ambivalência que lhe advém do seu atual nível de consumo.
Este, o protagonista(8) para Leôncio M. Rodrigues. Mas, veja-se bem, um protagonista paralizado — em vários sentidos — no presente e produto unilateral da evolução tecnológica, numa concepção linear da causalidade. Mas é este o protagonista que se depreende do filme quando não se expulsa o velho Militina do rol dos personagens?
Já apontamos o eixo temporal — Militina/Lulu: momentos distintos da história de uma mesma humanidade. Detalhemos um pouco esta ideia, ancorando-a em cenas da película.
Desde a primeira ida de Lulu Massa ao manicômio fica a impressão de que Petri tem por intenção retratar mais do que simples visitas de cordialidade. Massa sente-se estranho, não desconhece que há algo de errado com ele; em uma palavra, já não possui a certeza da própria sanidade. Observar e conversar com o velho operário é mais do que se informar a respeito da saúde de um amigo, é efetuar uma investigação profundamente interessada, onde o investigador é parte ostensiva do objeto da observação. Militina é louco, "louco, mas não trouxa", como diz o próprio Militina; portanto, sabedor do que seja e do que leva à loucura, ao mesmo tempo que serve de termo de comparação, fruto maduro do que em Lulu ainda é semente. Massa, preocupado, demonstra que precisa e que procura saber; Militina é a sua fonte porque é sua para-igualdade, sua antecedência e seu futuro indesejável. Ao falar com Miltina Lulu simultaneamente fala com seu passado e com um possível futuro que o apavora. Comuns são os traços essenciais de suas existências: ambos operários da mesma fábrica, dirigida pelo mesmo engenheiro; ambos têm diante do trabalho fabril a mesma opinião negativa ("um homem deve saber pra que serve o que faz", afirma Militina; em conversa com os aprendizes, Massa declara textualmente não gostar de seu trabalho — não é a única vez —, e considera-o capaz de ser executado pelo mais imbecil dos mortais); ambos perpetram "atos políticos" inúteis, em tudo e por tudo semelhantes: Militina coagira fisicamente o engeneheiro, exigindo resposta que esclarecesse a finalidade de seu trabalho: Lulu, no tumulto diante da empresa, lança-se contra o para-brisa do carro do mesmo dirigente, implorando sua conivência para com o movimento deflagrado. A tal ponto chega a construção fílmica do vínculo entre os personagens que, a certa altura de um dos diálogos no manicômio, é Militina que assume o papel de visitante (qual dos dois é mais sábio?) e começa a se despedir, como quem vai embora; Lulu tarda uns momentos para expressar uma reação, por segundos "aceita" a inversão de papéis, para tão-somente depois desta pequeníssima, porém significativa, fração de tempo, reagir sob densa expressão emotiva. O seu quase grito — "quem vai embora sou eu" — desfaz a confusão entre os personagens, recoloca cada um no seu tempo, mas torna-os indissolúveis na sua sequência.
Lembremos ainda que, na ótica do velho operário, fábrica e manicômio formam praticamente uma identidade, a única diferença é que ao fim da tarde não se pode deixar o hospício, ir para casa, dar um dedo de prosa com os conhecidos. De fato, o sanatório de Petri é uma espécie de reprodução do ambiente fabril. O trabalho reduzido a operações elementares, monótona e desesperadamente repetidas, encontra seu equivalente nos gestos e movimentos obcessivamente iguais em cada um dos doentes; é como se fossem "especializados" na própria insanidade.
Por fim, a própria loucura é definida por Militina no ethos decorrente da vida do trabalho: "é o cérebro que faz greve".
Tudo vincula, sem dúvida, Militina e Lulu como elos de uma mesma corrente, até sua diferença essencial. Ambos perpetraram atos políticos de natureza semelhante, motivados por razões análogas, todavia as consequências são profundamente distintas: Militina, após o choque com o engenheiro, é despedido e seu destino final é o manicômio; Lulu, por seu turno, punido também, é, contudo, reintegrado ao trabalho, escapa à loucura.
Petri tem claramente, com isto, o propósito de configurar a ideia de processo histórico social em sua, por assim dizer, marcha ascensional.
Perdida a noção de processo pela eliminação de Militina, reconhecer, como L. M. R. de fato reconhece(9), que o protagonista é uma determinada classe social, todavia, não basta. Pela injustificável supressão cometida não se perde simplesmente a contribuição de um personagem, mas se altera fundamente o tempo que caracteriza o filme.
Donde provém esta mutilação? Não há de ser atribuída a uma pretensa falta de perspicácia do crítico. Tolice pensar desse modo, o peso específico do próprio artigo desmente essa hipótese, aliás, demasiado simples e ingénua. A supressão resulta de que a perspectiva teórica empregada para a leitura do filme, reduzindo concretudes e funções, se vê autorizada a eliminar aqueles dados que julga inessenciais, sabido que tal procedimento metodológico está privado da noção de história enquanto conceito de análise científica, perdendo com isso a dimensão da totalidade concreta. L. M. R. é assim impedido de "ver" a historicidade, mesmo quando ela é presença intencional numa obra de arte; quando não cabe discutir se ela se justifica ou não como instrumento científico, pois que está inserida (como uma espécie de personagem) num discurso estético. Dito de outra forma: pode-se negar estatura científica à noção de história (e se há de suportar coerentemente as consequências), mas não se pode, sob pena de desentender o filme, inobservar que Petri lança mão dela, não apenas como valor científico, mas também como realidade concreta. Não resta dúvida de que Petri possa estar enganado, mas ninguém poderá negar que ele pratica seu engano até o pescoço. O método que não perceber isso é com muita probabilidade engano maior.
Conseqüentemente o que se torna protagonista em (L. M. R.) é uma classe, mas uma classe sem história. Não discutindo o que possa vir a ser conceitualmente uma classe assim definida, cabe, no entanto, frisar que, em qualquer hipótese, este protagonista é diferente do protagonista de Petri. Em decorrência, tal como Militina, o filme escapa a L. M. R.
Excluído o passado, a própria intelecção do "presente" torna-se anêmica; esvaziada a realidade das relações que poderiam informar de sua natureza, retêm-se apenas uma estrutura, o sistema de um momento, o equilíbrio de um instante, e este, elevado à condição de todo, aparece como eterno. Na interioridade desse processo redutivo fica também comprometida a dinâmica imanente ao objeto estudado. Face a isto, a mudança passa a ser, quando não um simples enigma, o resultado de determinações exteriores ao próprio objeto. É quando, rompendo, sem outra alternativa, o caminho da reflexão científica, desliza-se pela encosta dos apelos éticos e utópicos. "... julgamos que a desalienação do trabalho industrial dificilmente poderá ocorrer sem que sucedam mudanças na tecnologia e nos valores que orientam a expansão dos dois grandes tipos de sociedade industrial." (L. M. R.).
Classe sem história, a quem só a idealização abstrata pode socorrer, eis os parâmetros da visão de L. M. R. Vejamos concretamente as mediações deste seu discurso.
"Do andrajoso proletariado das sombrias fábricas do passado" passa-se(10) para a figura do operário elevado à condição de consumidor classe-média.Esta, em síntese, a caracterização de classe oferecida pelo crítico, toda ela situada na esfera da distribuição. A unilateralidade da definição é agravada, em seguida, pela "escolha" do fator determinante da nova situação: a tecnologia, que intensifica a divisão do trabalho, eleva a produtividade e melhora os salários, de tal modo que "Naturalmente, a dominação está presente mas é mais sutil. Não se impõe brutalmente mas se oferece sedutoramente. O aumento da produtividade é o preço da geladeira, do televisor, do automóvel. A contrapartida do paraíso do consumo é o inferno da produção." (L. M. R.). Inferno decorrente de que "A visão da totalidade do processo produtivo foi perdida pelo operário." (L.M.R.) Estamos na esfera da alienação, e "O aspecto alienação" dominante e é o que melhor explica o comportamento de Lulu e de seus colegas." (L. M. R.)
Afinal, do que se trata?
Para o sociólogo em questão, de que houve uma mutação da natureza do operariado pela intervenção da moderna tecnologia, de tal modo que ele pôde tender para a solução de seus problemas da sobrevivência, mas acentuou profundamente sua alienação pela divisão técnica do trabalho e pelo consumismo.
Ora, ainda uma vez, isto não corresponde ao filme. Mesmo que o autor esteja absolutamente certo nesta sua diagnose do mundo atual (e não é disto que se trata), sua leitura do filme é falsa. O que Elio Petri diz, e o faz com todas as letras, é outra coisa. De fato estamos face a uma enorme investida tecnológica, de fato não estamos mais exclusivamente diante de um proletariado andrajoso, de fato ele consome hoje mais do que ontem, mas sua natureza não mudou, nem é nova sua alienação. Pelo menos assim entende o diretor italiano em repetidos episódios de sua obra.
A começar por Militina quando explica a causa da loucura. Já mencionamos suas observações relativas aos caracteres do trabalho fabril, lembremos, agora, que o dinheiro, diz ele, é sempre o culpado — "Eles, porque têm demais, nós, porque temos de menos". Esta asserção não apenas explicita a questão da necessidade, mas generaliza, dentro de certos limites, o problema da alienação no tempo e no espaço social (a alienação não é privilégio proletário), ao mesmo tempo que a vincula a uma esfera mais ampla, onde as determinantes compreendidas não são apenas as de caráter tecnológico.
Lulu na sua catarse anticonsumista, quando desempregado e abandonado pela mulher, ao fazer o inventário de suas posses (vida), verifica que não lhe resta nada além de um pobre museu de um monte de objetos inúteis; constata, em última análise, que o consumo não alterou o sentido fundamental de sua condição: ele foi, é e continuará sendo um trabalhador. Não é mera solução dramática que, durante toda esta sequência, o raciocínio de Lulu seja a explicitacão dos objetos pelo número de horas/trabalho necessárias para adquiri-los. Cada objeto avaliado é uma certa quantidade de trabalho efetuado (e trabalho mortificante); e, uma vez possuídos, estes objetos se desvalorizam, e não alteram o sentido da existência de Lulu, pelo contrário, são a negação de seu significado possível; a única coisa viva que ele continua possuindo é anterior ao consumismo — sua forca de trabalho. E a catarse culmina com a tentativa de estrangulamento de Tio Patinhas, que resiste, se retorce, escapa aos dedos de Lulu, geme agoniado e só sucumbe esvaziado ao ter rompido o olho pela chama do cigarro. Ao longo do episódio, Lulu garante, em fúria, que o boneco (o boneco?) vivia a controlá-lo.
Bastam estes exemplos, não é necessário se reportar a falas de outros operários da B. A. N. que garantem do real proveito que terão em contar com algumas milhares de liras a mais em seus envelopes de pagamento.
Linearmente, no filme de Elio Petri, o plano das necessidades é afirmado, apesar de não ser negada a remissão dos andrajos. Todavia, a natureza da condição proletária, mesmo consideradas as diferenças tecnológicas obviamente constatáveis entre o passado e a situação atual, é postulada como inalterada no essencial, mesmo porque esta questão não é definida, no filme, por determinações técnicas que caracterizem o trabalho, ou por níveis de consumo. Conseqüentemente o problema da alienação é também uma questão entendida como mais antiga que as compulsões derivadas da tecnologia contemporânea. Esta pode, como de fato acentua o fenómeno, mas, em primeiro lugar, não apenas em um sentido monovalente, nem, muito menos, o gera com exclusividade.
Há mais de um século a questão já havia sido tematizada, e o autor de O Capital mostrava a necessidade de discernir entre a técnica, e a sua utilização dentro dos modos de produção em particular(11). Esse mesmo autor, fazendo a história do desenvolvimento do trabalho, indica em que remotos tempos há de se buscar as raízes de sua divisão.
"O camponês e o artesão independentes desenvolvem, embora modestamente, os conhecimentos, a sagacidade e a vontade, como o selvagem que exerce as artes de guerra apurando sua astúcia pessoal. No período manufatureiro, essas faculdades passam a ser exercidas apenas pela oficina em seu conjunto. As forças intelectuais da produção só se desenvolvem num sentido, por ficarem inibidas a tudo que não se enquadre em sua unilateralidade. (...) Esse processo de dissociação começa com a cooperação simples em que o capitalista representa diante do trabalhador isolado a unidade e a vontade do trabalhador coletivo. Esse processo desenvolve-se na manufatura, que mutila o trabalhador, reduzindo-o a uma fracão de si mesmo, e completa-se na indústria moderna, que faz da ciência uma força produtiva independente de trabalho..."(12).
A não distinção entre técnica e sua utilização específica por uma dada sociedade, obra de perspectiva a-histórica, conduz a empregar um conceito abstrato de técnica, do qual decorre a configuração neutral que L. M. R. lhe confere. "... a organização industrial do trabalho decorre de um dado tipo de tecnologia que tem sua lógica interna de funcionamento e que não depende diretamente da forma jurídica da propriedade e do sistema político em vigor". Monotonamente o problema se repete. O ensaísta pode ser que tinha razão, mas Elio Petri não pensa do mesmo modo. E como não se trata de explicar o mundo, nem de conhecer as convicções do sociólogo brasileiro, mas de entender um determinado filme, estamos novamente diante de um fracasso. Com a terrível agravante de que, em termos conclusivos. L. M. R. põe, na boca e na consciência de Petri seu punhado de certezas e seu fardo de perplexidades: "Em termos de 'soluções’, o filme de Petri é aparentemente ambíguo (...) Talvez por isso o final não é heróico nem dramático mas melancólivo e obscuro". E tudo isto porque "Petri, a nosso entender, recusa-se a tomar partido". Diante disto não resistimos ao velho chavão: com certeza andamos assistindo a filmes diferentes.
A tomada de posição que a trama fílmica solicita é entre a perspectiva dos trabalhadores e a sugerida pelo lumpen-estudantado. O que há de mais absolutamente nítido na película do que a ostensiva (alguns até dirão que artisticamente brutal e desnecessária) opção de Petri pela primeira?
Retomemos, para encaminhar a análise do epílogo, o problema do confronto unidade sindical x "estudantes".
Afirmamos anteriormente(13) que não se encontra, na obra de Petri, estudantes propriamente ditos, mas uma sorte de lumpen-estudantado(14) que entra em confronto com o sindicato e os trabalhadores a nível de uma determinação que se situa acima do plano tático.
Se afirmamos que o dilema não está a nível tático é porque entendemos que, no filme de Petri, ele está situado numa esfera bem mais abrangente e decisiva; trabalhadores e “estudantes" não divergem aí tão-somente com relação aos meios, mas o desacordo é de objetivos.
O que pensa e qual a proposta do lumpen-estudantado?
Ao mundo real de Lulu Massa, compreendido pela sua casa, seus amigos e seus inimigos, e principalmente pela sua existência na fábrica(15), é contraposto, pêlos estudantes, um projeto de mundo, que, partindo da caracterização da fábrica como cárcere, sugere um universo sem trabalho.
É o que se depreende de uma de suas poucas asserções afirmativas: "quando assumirmos o governo, garantem, suprimiremos os patrões". À primeira vista isto soa como expressão de antiga e muito conhecida tese anticapitalista. Todavia, se vincularmos esta formulação isolada ao teor das suas reiteradas palavras de ordem de abandono de trabalho, veremos que, consciente ou inconscientemente, o propósito de supressão dos proprietários privados é, de fato, a supressão do trabalho. E nada mais coerente se recordarmos, como já o fizemos, que o grupo se caracteriza prioritariamente pelo seu desligamento efetivo de qualquer forma de produção material ou espiritual.(16)
Ora, a mera supressão do trabalho não é apenas uma absurda utopia enlouquecida, mas a própria dissolução da classe proletária, e não mais no sentido de que seu desaparecimento é a superação de todas as demais existentes. Nada garante, nesta fantástica tese, o desaparecimento das classes, a não ser a do próprio proletariado, pois a simples ausência desta não implica na sociedade sem classes. A única consequência possível dessa impensável desqualificação do trabalho, e mesmo assim se esta não for leva-da às últimas consequências, é o retrocesso do nível de objetivação da humanidade a corrompidos estágios primitivos, de modo que chegaríamos a uma espécie de lumpensinato unilateral. Isto é, o lumpen-estudantado oferece a si mesmo como modelo e perspectiva.(17)
Pode parecer que estas considerações sejam meramente produto de mal encaminhado exercício especulativo. Todavia é o filme que as autoriza. Se não, vejamos.
Em suas idas e vindas, ao longo dos portões da empresa, o grupo, auto-nominado, "estudantil", impressiona, de um lado, pela disposição de empregar infatigavelmente uma linguagem contundente (consubstanciada especialmente na forma de críticas ao operário), se bem que repetitiva e vaga(18), e doutro pela fraqueza de sua total dependência. Dependência física e política. Para comer, dormir, abrigar-se, sobreviver enfim meramente como indivíduos, têm sempre que se "arrumar" com alguém: não são capazes de prover suas necessidades vitais mínimas. A dependência é também política, e é intrínseca ao grupo, não simplesmente conjuntural. Nada tem a oferecer a si ou aos operários, de imediato ou a longo prazo, a não ser, como vimos, o conteúdo dissolvente de sua própria condição. Inexiste políticamente enquanto ele mesmo, na medida em que de si não há como nascer um ato propriamente político; depende para tal, em termos absolutos, das iniciativas dos próprios trabalhadores a quem pretende esclarecer e orientar. Mas, ao conquistar uma adesão, não consegue reter e se nutrir da substância que lhe vem ter às mãos. É levado a dissolver a condição operária do adventício, tal como procura fazer com Lulu, e assim evidencia não uma dissonância tática, mas uma incompatibilidade estratégica. Mostra, desse modo, a impossibilidade interna de se alinhar pela perspectiva do proletário, e forceja, então, por "esclarecê-lo", o que não significa mais do que desproletarizá-lo, superada a aparência verbal. É por esta razão que, em duas oportunidades, através de cenas relativamente demoradas, Petri faz com que Lulu se negue a ser dissolvido enquanto operário. Numa, já despedido, procurando forçar sua entrada para o trabalho, Massa indaga: “Pra onde vai um operário? Pro cinema, pro teatro, pro cemitério?" A resposta é óbvia, e Petri faz questão de mostrar que o desespero do personagem não provém de necessidade económica imediata: Lulu tem economias e sua mulher trabalha. O mesmo significado é reiterado e tornado ainda mais claro na visita de Lulu à sede dos "estudantes". Na conversa que aí trava com o chefe do grupo, este se apresenta em toda sua nudez. Não lhes interessam, afirma o "estudante", casos pessoais. "Queremos é quebrar as estruturas". Se Lulu, prossegue, perdeu um dedo e o emprego, paciência, ele próprio, o chefe, carrega sua piorreia. Portanto, conclui, estão em identidade de condições. Lulu, todavia, nega-se a esta igualização, e afirma sua recusa em comer de esmolas: "eu, diz ele, trabalho pela comida". "Pedalaréi Pedalarei", acentua. Está configurada a impossibilidade de solidariedade entre o que representa Massa e o que representa o lumpen-estudantado. Não se trata de um conflito secundário, decorrente de incompreensões entre consciências situadas em níveis distintos; não se trata, vale frisar novamente, de concepções distintas quanto aos processos de mediação, nem muito menos de uma risível inimpenetrabilidade entre dois universos de linguagem. O que é afirmado é a impossibilidade de conjugar a condição operária com aquela que é justamente uma forma simples de sua negação. Não há possibilidade, nestas circunstâncias, de um empreendimento conjunto.
Dado que Elio Petri estabelece o choque a nível de totalidades em choque, e a análise de L. M. R. não deixa de aflorar certos aspectos do problema com propriedade: "Acompanhar os "gauchistas", para Lulu, implica em abandonar o trabalho, a fábrica, deixar de ser operário..." (L. M. R.), por que não alcança ela a dimensão real contida no filme? Por que reflui para a esfera da taticidade? Por que acaba por ficar restrito à dualidade superficial entre táticas positivas e táticas negativas.
Cremos, sinteticamente falando, que o encaminhamento para uma perspectiva analítica parcializante fica determinada tão logo o sociólogo nos oferece a sua classe sem história, o que a paralisa, em cada comento, numa estrutura funcional, onde os papéis que desempenha são definidos pela aparência fenomênica. Desse modo, à imagem do herói-martir maltrapilho sucede à do classe-média razoavelmente bem nutrido, e isto pelo milagre da tecnologia (a escolha, nesse plano metódico, poderia ser por qualquer outro fator). Da mesma maneira empírica, à "exploração" do passado advém a 'alienação'(19) do presente, de tal forma que a noção de contradição passa a ser entendida como conflito entre funções. Que mais pode significar a afirmação de que "As contradições de Lulu derivam, pelo menos, em parte, da sua dimensão 'operária' e 'classe-média'"? Todavia, em que a condição essencial do trabalhador se altera na medida que também lhe é conferida uma necessária função de consumidor, como elemento de reprodução do sistema? Evidentemente esta questão escapa, de fato, à análise, na ótica de tipo estruturo-funcionalista, desqualificada que é pelo procedimento empirista, já que seu elemento fundante é a certeza de que o social se esgota e entrega pela descrição da trama de suas funções.
Caminha-se, então, empiricamente, da "dinâmica" do esfarrapado para a "estática" do bom consumidor. Vale dizer, do conflito para uma situação tendente ao equilíbrio. Ambas, todavia, se apresentam analiticamente esvaziadas de seus movimentos intrínsecos reais. Tanto assim é que, nem do conflito emerge a melhoria do consumo (a determinação é conferida ao fator técnico), nem o equilíbrio deixa de conter a grave fissura da alienação. São, se assim se pode dizer, dinâmica e estática imobilizadas, portanto abstraías.
Nestas condições a busca analítica do processo de mudança será novamente uma parcialidade arbitrária.
Descritas as funções e constatada a anomalia da alienação, indaga-se do corretivo, sendo que a terapêutica (e trata-se bem da procura de uma terapêutica) não tem como ser revelada pela análise "científica" realizada. E como à semelhante análise é barrado o estudo da natureza dos seus objetos, o remédio tem de ser procurado fora da análise e fora do objeto. Ou, como diz uma linguagem que pode ser enganosa, no exame das alternativas viáveis. Com isto mergulha-se na esfera do tático, e de um tático restringido à recombinação dos fatores empíricos em presença. No caso, precisamente, na tática para a mudança desalienadora.
Mister, então, localizar os possíveis vetores energéticos da mudança. À leitura empírica é fácil confundir dinâmica social com simples convulsão física e verbal. Dsete ponto de vista, que mais agitado, no filme de Petri, do que o comportamento do lumpen-estudantado? Nada mais simples do que lhe conferir a qualidade de mais agundo proponente da mudança. Mas seu radicalismo se explica porque nada tem a perder(20), e os operários sim(21). Conseqüentemente sua tática é má porque se configura como uma disfunção relativa ao estágio atual da vida operária(22). Em contrapartida, a tática sindical conhece a vida do trabalho e seus agentes e atua na perspectiva de garantir o padrão alcançado por Lulu e seus companheiros. Mas ela é conservadora, não muda o essencial(23).
Disfunção a tática dos radicais, conservadora a dos sindicatos, à pobre vítima da alienação não resta outra alternativa a não ser a espera de modificação na técnica e nos valores. Mudados por quem? O sociólogo não nos pode informar.
Tangenciando aspectos essenciais, porém impedido metodologicamente de estabelecer as relações essenciais necessárias, L. M. R. se vê impulsionado a mergulhar no plano raso da taticidade. Não estando, no filme, a discussão situada dominantemente neste terreno, outra alternativa não resta ao ensaísta do que desentender a construção final da película.
A leitura sociológica pelo recurso das funções, tomando o modo de organização técnica do trabalho como a totalidade, não pode deixar de atribuir ao operário o desempenho do papel produtivo em circunstâncias prevalentemente determinadas pelos imperativos tecnológicos, de modo que, em última instância, estamos face a um pensamento que atribui ao fator técnico o caráter de determinante histórico fundamental, se não exclusivo. Mais do que isto. Na medida em que os atributos da tecnologia contemporânea são considerados capazes de gerar a tendência ao imobilismo social, não estamos mais diante da história, mas do fim da história pelo império da razão técnica absoluta(24). Donde se concluiria que a alienação, negação da razão, é produto exatamente de sua forma mais alta e definitiva.
Ora, o filme de Petri não autoriza nenhuma conclusão do tipo. Para ele a história "racional", não só não acabou, como, nem sequer, propriamente, teve início. É pura e simplesmente projeto, sonho. Eis o sentido do paraíso. Mas um paraíso muito especial. Não uma projeção utópica, compensação sonhadora para as mortificações do cotidiano hostil e frustrador, mas, pelo contrário, consequência necessária exatamente deste cotidiano hostil e frustrador, vivido ativamente pelo homem. Homem que não escolheu este caminho paradoxal, mas que, nem por isso, deixa de ser seu criador. Trata-se, é óbvio, de antiga tese(25), que Petri se esforça por demonstrar filmicamente(26).
Como o faz é que nos incumbe apontar a título de conclusão.
Logo à primeira cena, Lulu começa a ser caracterizado como aquilo que dele crescentemente será reafirmado: é um trabalhador, um vendedor de força de trabalho. Em sono intranqüilo, movimenta os dedos, em rito operacional, adquirido por exigência da máquina(27). Mostra, desde logo, estar em desconforto pessoal, sensitivo consigo mesmo e com os outros. Bate na própria cabeça para poder despertar, e o primeiro diálogo com a mulher evidencia, não só o comprometimento da atmosfera doméstica, mas também seu desagrado e dilaceramento pelo trabalho. Não gosta, nem se interessa pelo que faz, mas se empenha por fazê-lo com o máximo de destreza. Não fosse ele um "stakhanovista". Do trabalho só lhe faz sentido as liras que lhe rende(28), o consumo que lhe permite. Mas o preço maior desse consumo é ele próprio, submetido que está a uma progressiva mutilação: na tensão contínua de seus nervos, na corrosão de sua úlcera, na amputação de sua impotência sexual. A perda do dedo não é apenas um simples acidente, consequência de um mero ato imprevidente, mas resultado possível de uma linha de procedimento, dentro de uma condição de existência. Evidência física, observável a olho nu, de que ele está se perdendo aos pedaços. Mais do que um simples desencadeador dramático é explicitação de que está sendo consumido, ele o bom consumidor, por uma engrenagem infernal. Em síntese, ele se nutre da máquina porque ela se nutre dele. E isto não é um fato novo, nem ele o primeiro a ser devorado. De Militina não deglutiram até a lucidez?
De uma forma confusa e opaca começa a se dar uma lenta transfiguração, que, no entanto, jamais será acelerada, mágica ou romanticamente, até o final da película. Lulu continuará quase o mesmíssimo Massa até os últimos instantes do filme. Mas o retorno à fábrica, após o acidente, é abertura para a revolta, e como certamente não basta entoar, a plena voz, uma cançoneta, talvez originária de um velho paese(29), e se está na fase da expressão oral, é tempo de fazer um discurso bizonho, que não passa de um desabafo, e aderir à grandiloqüência do "estudantado", muito mais fácil de seduzir na sua linearidade de tudo ou nada, na sua simplificação supressora do trabalho, do que a complexidade das articulações tático-estratégicas propostas pelo sindicato, num infindável processo de mediações(30).
No discurso aos colegas, no qual não sabe sequer que tratamento empregar (evidência da falta total de solidariedade), Lulu paradoxalmente apela para a solidariedade incondicional, e propõe o abandono do trabalho. É preciso que ele próprio seja negado na condição de trabalhador para que, a nível de consciência, reassuma, sua identidade. E ele o faz, já na condição de operário de linha de montagem. Aí a solidariedade que nasce é imposição material. Está superada a fase em que cada qual opera isoladamente um dado equipamento, e pode manobrá-lo concorrencialmente de acordo com sua maior ou menor destreza. Na linha de montagem, as condições de comunicação pioraram concretamente, ouvir e falar é muito mais difícil e se está praticamente impedido de se afastar alguns passos da banca de trabalho. Mais que tudo, o ritmo, agora, é totalmente impessoal, ficando suprimidas quaisquer características individuais de desempenho. O trabalho, quer queiram ou saibam, quer não queiram ou não saibam tornou-se absolutamente equivalente, estabeleceu-se uma identidade universal. É, não resistimos à frase de efeito, a própria encarnação do trabalho abstrato. Não há mais espaço algum para nenhuma emulação, e cada um depende por inteiro dos outros, e não resta nenhuma outra alternativa. Sejam quem forem os que estão junto à bancada formam um todo indissolúvel que leva a empreitada adiante; mais que isso, não podem deixar de levá-la.
É nesta configuração concreta que Petri faz ressurgir a figura de Militina, através do sonho de Lulu, e se estabelece o fluxo temporal passado-presente-futuro, onde o muro do velho enfermo é posto abaixo, como ele sempre pedira. Em meio à névoa, eles entram no paraíso e encontram exatamente a eles próprios, em suas próprias condições. Lulu vai enumerando os que lembra ter visto. Um por um manifesta interesse em saber se também lá estava. A linguagem se embaralha, e já não se sabe se Militina lá estava, ou se Militina morreu. De Militina, no entanto, que não teve direito sequer a sanidade, e que dizia que quem decide da nossa loucura são os outros, dele vem a ideia do muro e de seu desfranqueamento. Quem realiza a proeza é Lulu, mas Elio Petri faz com que ele a execute da perspectiva da linha de montagem,(31) de tal modo que vinculada à narração do sonho, flui o trabalho de mão em mão, até ao arremate, quando, então, o resultado é colhido por um trabalhador maduro de rosto inteligente e ar sereno que sozinho(32), o conduz, determinando seu rumo pela direção que imprime ao carrinho que dirige por meio de movimentos precisos de alavanca. A música, ao fundo, estilizando o ruído de uma arma de repetição, completa a sugestão de que a violência própria ao operário reside no trabalho.
Do que se conclui que para E. Petri, ao contrário do lumpen-estudantado, a alienação não é uma sorte de pecado, de mácula a ser redimida; ferro e fogo, mas que resulta de um processo que abre concomitantemente para o homem integral(33).
Notas de rodapé:
(1) Leia-se: criador, diretor, artista, poeta etc. (retornar ao texto)
(2) L. Goldmann, A Reificação, in Recherches Dialectiques, Ed. Gallimard, nota l, p. 91. (retornar ao texto)
(3) Nossas considerações abrangem particularmente os ensaios de LEÔNCIO M. RODRIGUES: Os operários irão ao paraíso?, e de JEAN CLAUDE BERNARDET: A classe operária vai ao cinema..., ambos publicados no semanário OPINIÃO de 2 a 9 de abril/73, pgs. 24 e 18 respectivamente. Daqui para frente mencionaremos estes artigos simplesmente pelas iniciais de seus autores: (L.M.R.) e (J.C.B.). Relativamente a J. C. B. cabe referir também artigo publicado em VISÃO — 23/ 4/73, pgs. 74/78; se bem que esta matéria não seja assinada, segue a perspectiva deste autor, que é aí abundantemente citado. De certo modo também está incluído o trabalho de Rodolfo Konder: Paraíso Nebuloso — VISÃO — 9/4/73, pgs. 84/85, porém de modo extremamente parcial e marginal. (retornar ao texto)
(4) (J.C.B.) não é dedicado exclusivamente à película que nos interessa, mas esta é dominante na exposição, e responsável pelo próprio título do escrito (retornar ao texto)
(5) R. Konder, incidindo no mesmo erro, acabará reclamando que Petri não constrói suficientemente os personagens, isto é, não se mostra satisfeito com o nível de individualização alcançado. Quer mais: "Tipos como Militina ou a própria mulher ï Massa (a cabeleireira) são apenas esboçados, na confusão de um painel em que faltam cores mais humanas". (retornar ao texto)
(6) Vide Nota 4. No contexto de (J.C.B.) a demonstração apontada é novamente uma simplificacão taticista do crítico, resumível nos seguintes momentos: 1) sedução, 2) danação, 3) redenção, onde o proletário é tomado individualmente e no plano psicológico. (retornar ao texto)
(7) “Um filme ou um livro são (a consideração é feita exatamente para o modo de produção em que está inserido A Classe Operária), em primeiro lugar, mercadorias entre outras. Como tal inserem-se num setor da produção capitalista que não sobreviveria se não fosse rentável, se não produzisse lucros. Em última instância, qualquer que seja o interesse subjetivo do editor ou do produtor pelo valor de uso dos obejtos que produzem, no caso, pelo valor estético e humano do livro ou do filme, eles não podem, salvo algum caso excepcional, desprezar sua rentabilidade". L. GOLDMANN, op. cit., p. 89. Esta questão, como se vê, não é exclusividade da indústria cinematográfica italiana, nem a sua avocação ajuda a esclarecer o filme em debate. (retornar ao texto)
(8) Sem dúvida o personagem social de L.M.R. é superior ao personagem individual de J. C. B.. Entre os dois medeia uma significativa diferença qualitativa. (retornar ao texto)
(9) Já anotamos que este autor reconhece o protagonista social. Não é demais mostrá-lo textualmente mais uma vez: "No operário Lulu Massa (...) e seus colegas resume-se uma problemática individual, social, política e tecnológica..." (retornar ao texto)
(10) Note-se que pela metodologia empregada por este crítico o passado é concebido apenas como algo encerrado em seu próprio âmbito, como uma colecão de eventos e situações particulares ossificadas. O presente é uma realidade simplesmente nova, que não mantém com aquela nenhuma relação, a não ser a da simples sucessão. Tudo funciona como se fossem universos independentes que são postos face a face simplesmente para efetuar uma comparação. (retornar ao texto)
(11) "Como sempre, é mister distinguir entre a maior produtividade que se origina do desenvolvimento do processo social de produção e a que decorre do emprego capitalista desse processo". "Era mister tempo e experiência para o trabalhador aprender a distinguir a maquinaria de sua aplicação capitalista..." K. MARX, op. cit, Civilização Brasileira, v. l, pp. 483 e 490. 12. Op. cit., pp. 413/4. (retornar ao texto)
(12) Op. Cit., pp. 413/4. (retornar ao texto)
(13) Quando analisamos o artigo de J. C. Bernardet. (retornar ao texto)
(14) Do que lemos a respeito da Classe Operária Vai ao Paraíso, a única interpretação que reconhece não se tratar efetivamente de estudantes é a dada por Paulo Vidal, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de S. B. do Campo, em entrevista publicada na VISÃO (23/4/73), quando afirma: "Não vejo aqueles radicais como estudantes, eles não aparecem no filme como estudantes: eles são radicais (...) Os radicais não sabem o que é um operário e apenas o utilizam, o que é outra forma de alienação". (retornar ao texto)
(15) Cabe observar que todo pensamento de Lulu, apesar de sua alienação, se dá em termos de uma leitura operária de mundo. Exemplo, por que não dizer poético, do que afirmamos é sua reflexão sobre os escolares: "parecem operariozinhos", diz ele, várias vezes, ao seu filho adotivo, quando o encontra à saída do colégio. (retornar ao texto)
(16) Não confundir aqui a disponibilidade social que, em tese, caracteriza o verdadeiro estudante, no sentido de que ele ainda não paga os ónus derivados dos encargos da vida produtiva, mas para a qual se encaminha, com a ausência de vínculo real ou possível com esta mesma vida produtiva; desvinculamento, aliás, tomado, ainda por cima, como pretensa opção de vida. (retornar ao texto)
(17) Nesta linha de raciocínio, conclui-se que a concepção de mundo do lumpen-estudantado é dissolvente e conservadora, reacionária mesmo. Faz lembrar que não foram os assalariados, mas os mestres das corporações os que lutaram contra a manufatura ao tempo de sua criação. (retornar ao texto)
(18) Argumentando com a cabeleireira, Lulu assim se expressa: "Se visse como falam! Não se entende nada, mas...". Um outro trabalhador da B.A.N.; avistando o grupo pela janela, indaga: "Que querem estes caras, quem os paga?" (retornar ao texto)
(19) Rigorosamente falando, há de se estranhar o emprego deste conceito na perspectiva teórica deste artigo de L.M.R. Revela um certo hibridismo metodológico, responsável, de um lado, pela contenção da tendência dominante, e doutro pelos melhores momentos da análise. (retornar ao texto)
(20) "Os "estudantes" nada arriscam em termos de organização; afinal são apenas "oposição" minoritária. Podem der-se ao luxo de ser mais radicais"." (L,M.R.).(retornar ao texto)
(21) "Porém, os trabalhadores que estão apenas saindo de um estado de privação secular, sabem o que significam mais essas liras. As direções sindicais também". (L.M.R.) (retornar ao texto)
(22) "Acompanhar os "gauchistas", para Lulu, implica em abandonar o trabalho, a fábrica, deixar de ser operário e — ao mesmo tempo e paradoxalmente — abandonar o "consumo", o lar pequeno-burguês". (L.M.R.) (retornar ao texto)
(23) "... a regulamentação do "extra" nada muda. Amanhã os trabalhadores estarão novamente na fábrica ao amanhecer e só sairão no anoitecer". (L.M.R.) (retornar ao texto)
(24) O apelo à automação, no contexto de L.M.R., não é esperança, porque teria como limite as necessidades próprias à reprodução do sistema, onde a história da técnica sempre esteve ligada à história da mais-valia. (retornar ao texto)
(25) "Falamos de inter-relações espontâneas de indivíduos colocados em condições de produção determinadas e limitadas. De indivíduos universalmente desenvolvidos, cujas relações sociais estariam submetidas a seu próprio controle coletivo, como relações pessoais e comuns. De indivíduos que não são um produto da natureza, mas da história. O grau e a universalidade do desenvolvimento das faculdades que tornam possível tal individualidade implicam precisamente uma produção baseada sobre o valor de troca. Este modo de produção cria, pela primeira vez, ao mesmo tempo que a alienação geral do indivíduo com relação a si mesmo e com relações aos demais, a universalidade e a totalidade de suas relações e de suas faculdades". C. Marx, Grundrisse, Tomo l, p. 56, A. C. Editor, Madrid. (retornar ao texto)
(26) Cabe ressaltar que não vem ao caso, como já nos cansamos de frisar, a veracidade ou a falsidade desta teoria. Petri a esposa, e a crítica preocupada com um mínimo de objetividade, não pode deixar de reconhecê-lo. Há que distinguir entre a crítica do filme, e a crítica da tese. A eventual concordância ou discordância para com esta é assunto que não compete discutir quando da análise da película, pois seria examinar objeto distinto do proposto, fugir ao estudo da obra de arte propriamente dita. Aliás, a discussão da tese que informa a obra de Petri é muito mais complexa do que a normalmente dedicada à análise de uma obra de cinema, mesmo porque esta teoria não apenas tem sido discutida ou criticada externamente à perspectiva teórica que a sedimenta, como também do interior desta mesma perspectiva, a isto de ângulos até mesmo antagónicos. (retornar ao texto)
(27) "Na manufatura e no artesanato, o trabalhador se serve da ferramenta; na fábrica, serve à máquina". K. Marx, O Capital, Civ. Brasileira, V. l, p. 483. (retornar ao texto)
(28) Não há aqui nenhuma novidade derivada da sociedade de consumo, nem da tecnologia moderna, como pensa L. M. R.. Desde que se trate de uma economia de troca, o trabalhador não está interessado no trabalho concreto, nem na produção deste ou daquele artigo em particular, mas no trabalho em geral, no trabalho produtor de valor que lhe permita efettíar a troca na forma mais vantajosa possível. (retornar ao texto)
(29) Nem muito menos visitar o psicódogo da empresa, portador ele próprio, da síndrome nervosa que busca, com gestos cabalísticos e pseuda-objetividade cibernética, identificar em Lulu. (retornar ao texto)
(30) "... sem uma base na prática real, no trabalho como protoforma e modelo da prática, a exageração do conceito de prática tem por força que se transfigurar naquilo que, em realidade, é de novo uma contemplação idealista". G. Lukács, História e Consciência de Classe, Editorial Grijalbo, México, 1969, 3 p. XIX e XX. (retornar ao texto)
(31) Isto porque, no discurso empregado pelo diretor italiano, a taticidade não é função isolada num sistema conjuntural, mas se insere numa esfera mais ampla, onde a unidade do possível e do real é que tem a primazia. (retornar ao texto)
(32) 32. "... o desenvolvimento superior da individualidade tem que ser compra mediante um processo histórico no qual são sacrificados os indivíduos". G. Lukás op. cit, p. XIX. (retornar ao texto)
(33) Vide nota 25. (retornar ao texto)