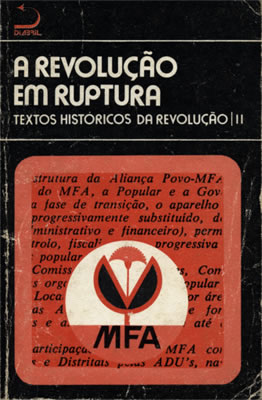
MIA> Biblioteca> Temática > Novidades
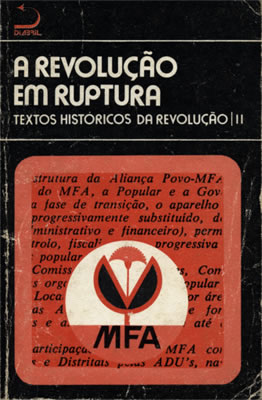 |
| Baixe o arquivo em pdf |
«Fechamos hoje um período crítico da nossa revolução», afirmou o general Costa Gomes no acto de posse do VI Governo, a que preside o almirante Pinheiro de Azevedo. A «nossa revolução» é, no dizer do Presidente da República, do actual Primeiro-Ministro e, mais ou menos no dizer de todos os representantes do poder político-militar, uma revolução socialista. Ao afirmarem-no, sem dúvida que não ignoram o sentido da expressão: a revolução socialista objectiviza-se na liquidação de todas as formas de opressão, na liquidação da exploração do homem pelo homem. Aí se chega através da luta de classes — e no caso da revolução socialista (oposta, por óbvio, à revolução burguesa) com a vitória — a obtenção do poder — das classes sociais «mais desfavorecidas» (para usar expressão cara ao MFA) que o mesmo é dizer do proletariado urbano e rural e seus aliados. Na revolução socialista (ainda obviamente) a substituição da classe dominante — a burguesia — pela classe dominada — o proletariado — é condição sine qua non para que assim se lhe chame.
Neste contexto assume equívoco ou leonino significado outra expressão do Presidente da República no mesmo discurso: «temos de construir um Portugal socialista com dimensão tão ampla que nele caibamos todos os portugueses».
Não recusando ao general Costa Gomes conhecimentos filosófico-políticos, parece-nos tal afirmação completamente desinserida da teoria-prática de uma revolução socialista. Como decerto o Presidente da República sabe, não é possível conceber uma sociedade socialista com «todos os portugueses». O apelo chauvinista que tal frase pressupõe não tem cabimento em sociedades socialistas. Antes desse conceito há que formular o socialismo, que não aceita patriotismos medievos, românticos ou liberais. Logo, numa sociedade socialista não cabem «todos os portugueses» se portugueses se considerarem os que entendem Portugal como uma sociedade de naturais que buscam a independência nacional e o fim da exploração humana e não aqueles que nasceram em território sob domínio político do Estado português, pertençam eles a que classe social pertençam.
Deste modo, o VI Governo nasce como um compromisso historicamente impossível. Nele participam partidos naturalmente antagónicos (PS, PPD e PCP) que pretenderam camuflar essa colaboração através de formulações programáticas sofismadas de índole geral e não apenas com um único objectivo comum (por exemplo, contra o fascismo, onde a colaboração poderia ser viável).
O VI Governo é o princípio do fim da revolução portuguesa? (e outras perguntas inevitáveis: terá havido alguma vez alguma revolução no processo histórico decorrente do 25 de Abril de 1974? Os chamados avanços da revolução tê-lo-ão sido de facto?, etc.).
O VI Governo é, pelo contrário, o começo da autêntica revolução socialista portuguesa? Quem (partidos e forças) estará interessado realmente numa revolução socialista em Portugal?
Recuemos no tempo.
Poderia parecer que, depois do 11 de Março, o processo revolucionário português alcançara uma dimensão político-ideológica nova. Poderia, consequentemente, admitir-se que, após essa data, a «revolução» portuguesa se encaminhava definitivamente para a única opção lógica: a apropriação colectiva dos meios de produção pelas classes trabalhadoras. Dir-se-ia que a burguesia perdera todas as hipóteses de controlo explorativo — aqui, através da implantação de uma democracia burguesa (isto é, a social-democracia), nas colónias, através de uma viragem autonomista de índole neocolonialista — até porque as massas populares viram naquela data a viabilidade de uma forte tomada de posição no jogo das forças políticas. Até e depois dessa data, o MFA cifrava-se por uma hegemonia das forças progressistas militares que, logicamente, apoiavam as rápidas e fulminantes conquistas posteriores ao 11 de Março e encontravam um apoio indesmentível no proletariado urbano, nos pequenos proprietários e comerciantes, nos intelectuais revolucionários, em certos quadros, etc. O mito MFA acima dos partidos afirmava-se ainda como realidade possível — até porque se dotara de instrumentos críveis: o Conselho da Revolução e o Pacto com os partidos que, parecia, iriam minimizar os jogos eleitoralistas. Iniciava-se a destruição do poder económico, político e cultural da burguesia o que levaria, na fase transitória, à criação basista de uma nova sociedade. Afinal muito pouco do que em teoria se revelava se verificou na prática e isso deveu-se fundamentalmente ao processo eleitoral que, pretendendo evitar-se, não se quis evitar: todos os partidos se lançaram nele cegamente e nele se arrastou inclusivamente o MFA que não conseguiu manter-se-lhe alheio. Neste jogo, um falso (ou real) dilema quiseram algumas forças expor à sociedade portuguesa: o modelo social-democrata (identificado, ao nível partidário, com o PPD e o PS, discretamente apoiados pelo CDS) e o modelo burocrático (que era atribuído ao PCP). Este dilema haveria de ter reflexos no próprio MFA. Real ou falso ele desviou as forças ditas progressistas do autêntico problema urgente: a destruição do aparelho de Estado fascista e a destruição da contra-revolução que, manobrada pelos fascistas, obtinha inesperados apoios directos ou silenciosos entre os partidos em jogo.
Nesta longa crise que vem desde as infelizes eleições de Abril deste ano, após as quais os partidos vencedores (PS e PPD) quiseram fazer tábua rasa do acordo MFA-Partidos e os partidos vencidos PCP e restante esquerda), conscientes de que defendiam a verdadeira sociedade socialista, estabeleceram uma série de partidas políticas de quase-gabinete para obtenção da condução do processo revolucionário, gerou-se tremenda confusão entre as classes sociais e simultaneamente deu-se o reforço das forcas fascistas dentro e fora de muros. Neste confronto as massas populares bastas vezes se sentiram isoladas, confundidas ou traídas.
No seio do MFA também esta luta (de classes) se havia de traduzir. E de Maio a Setembro assistimos ao agudizar dessa luta dentro das FA. Desfeita a ilusória coesão do MFA, lógico seria que se extremassem as posições partidárias. A princípio tudo isso se passou a nível de bastidores e nos dois primeiros meses desta crise esse confronto, que se sabia existente, não transpirou para o exterior. Até que, a certa altura, ele se expôs nuamente ao povo português. Porque os partidos não encontravam plataformas de entendimento revolucionário, o MFA desagregava-se e dividia-se vindo ao de cima a fragílissima politização de grande parte daqueles que tinham feito o 25 de Abril de 1974.
Entretanto, certas massas populares, aglutinadas em partidos à esquerda do PCP (este ainda fazendo uma política de equilíbrio entre os jogos de gabinete onde procurava conciliar figuras cupulares de partidos ou militares e o apoio às lutas dos trabalhadores urbanos e rurais (recordemos a reforma agrária no Alentejo), buscavam encontrar o rumo da sua revolução. Identificadas forças ou personalidades militares com forças políticas fácil era de prever a desagregação da aliança — todos queriam um socialismo mas o socialismo de cada um era diferente e, inevitavelmente, tal desagregação conduziria ao início de uma confusão ideológica que arrastou a grave crise económica. Facto de que só a direita se poderia aproveitar — o que fez em pleno, a partir dos primeiros dias de Agosto.
Pouco importa se foram o vanguardismo leninista defendido pelo PCP, ou o insólito socialismo em liberdade,dama do PS, ou a ainda mais insólita social-democracia como via para o socialismo, terçada pelo PPD (e esta foi a mais incongruente teoria que o nosso jardim zoológico de teorias políticas revolucionárias criou) os culpados, em x ou y percentagem, da crise. Foram-no todos — sobretudo porque não souberam encontrar planos de entendimento contra o inimigo que deveria ser comum: o fascismo. Antes pelo contrário, algumas dessas forças, ao lutarem umas contra as outras, utilizaram truques, manobras e traições que proporcionaram a sua tácita conivência com a direita que, em hábil e facilitada ascensão, as usou.
De toda esta refrega várias foram as consequências: a violência do anticomunismo instalou-se como nunca com o beneplácito silencioso das autoridades e de partidos ditos progressistas, uma figura revolucionária indiscutível (a confirmar a onda de saneamentos à esquerda) como Vasco Gonçalves foi postergada de forma humilhante, o IV Governo que conseguira, até ao caso República (um caso que foi aproveitado interna e internacionalmente de forma demagógica), ser um Governo ainda revolucionário desmoronou-se por razões extrínsecas (recordemos que foi por causa do caso República que os ministros do PS abandonaram o Governo), o V Governo que se lhe segue, é massacrado com toda a espécie de insultos (cremos que a História virá dizer-nos que ele foi até hoje o mais revolucionário, activo e coeso), o MFA desfez-se por completo (vide a alucinante série de documentos e comunicações que os militares produzem em Julho e Agosto) podendo, pela primeira vez, atribuir-se (mesmo que negadas) posições partidárias a esta ou aquela personalidade militar e, finalmente, como único factor positivo, o poder popular iniciou a sua construção, praticamente contra tudo e contra todos.
O VI Governo surge, segundo as declarações, como um governo de coligação que não o é, sendo-o. E, pela primeira vez depois de 25 de Abril de 1975, aparece em foco algo que vai ficar célebre na «nossa revolução»: o decantado princípio da proporcionalidade eleitoral. Baseado num formulário eleitoralista (em que, como se sabe, predominam as forças sociais-democratas) o VI Governo é o que se poderia dizer — finalmente um passo atrás. Perspectivas excelentes abre ele à burguesia. A revolução socialista retarda-se (por quanto tempo?). O Partido Comunista ao nele participar faz um novo jogo — como em todos os jogos a vitória pode pertencer-lhe mas à partida, existem possibilidades de derrota adiada ou de suicídio (neste exacto momento). À margem e contra este governo colocam-se forças políticas, actualmente minoritárias, que procurarão resistir-lhe. Para as dominar, corolariamente, o VI Governo terá de montar máquinas repressivas — o futuro dirá quais e qual a sua viabilidade.
No interim, as forças militares readaptam-se ao novo esquema: as assembleias dos ramos das FA reclassificam-se e mudam a sua composição dando prevalência ao oficialato, naturalmente o sector mais burguês e menos interessado numa revolução socialista. Com as forças partidárias sociais-democráticas ora dominantes e as forças militares, recompostas num sentido de domínio interno equivalente ao desses partidos, a social-democracia, mais ou menos mascarada, terá imposto o seu reinado. Resta (?) a palavra às forças populares e aos militares progressistas agora afastados.
E isto apesar das declarações do Presidente da República e do Primeiro-Ministro de recusa da social -democracia. Recusá-la em discursos pode ser uma louvável intenção, mas só na prática das maioritárias forças de apoio ao VI Governo poderemos ter a resposta correcta. E, a menos que se dêem viragens espectaculares na orientação desses partidos, ela — a social-democracia — é, inelutavelmente, a sua meta.
Por conseguinte, uma «revolução socialista onde caibamos todos os portugueses» não é uma utopia — é um engano ou uma ignorância.
Quando em Junho do ano corrente a DIABRIL lançou o 1.º volume desta série de TEXTOS HISTÓRICOS DA REVOLUÇÃO nada fazia prever que, em tão breve espaço de tempo, surgisse a hipótese de novo volume. Na verdade, no entanto, este aparecimento tornava-se necessário dado que entre Junho e Setembro se produziram alguns textos que terão certamente grande valor histórico, dado o seu forte impacto.
Do Plano de Acção Política, ao Documento Guia, do Documento dos Nove, ao Documento do Copcon ou ao Documento do V Governo passando por muitos outros, criou-se, neste curto espaço de tempo, material documental suficiente para um volume. E seria despropositado guardar a sua compilação para tempo posterior na medida em que, então, teríamos de editar um grosso volume, necessariamente dispendioso. Pareceu-nos, pois, que a edição deste segundo volume (que se encerra com o discurso de tomada de posse do VI Governo pelo almirante Pinheiro de Azevedo) seria oportuna neste momento.
Fechou-se um período da nossa revolução — isso é indubitável. Daí este volume onde, mais uma vez e na sequência do critério já seguido no I, se recolhem apenas textos de autoria oficial ou para-oficial. De novo não incluímos aqui textos da autoria dos partidos — esse é um volume diferente que DIABRIL prepara.
Neste II volume de Textos Históricos surgem, em apêndice, alguns documentos que não podem considerar-se oficiais — foram, durante a crise, emitidos por personalidades do MFA ou grupos militares — mas, como se sabe, eles tiveram influência decisiva no decurso da crise. Ainda assim, porém, voltamos a pedir desculpa de qualquer lapso na recolha: por um lado, seguiu-se um critério e todos os critérios são discutíveis e, por outro, pode ter acontecido, na imensa quantidade de documentos, comunicados e discursos que algum tenha escapado — o que se corrigirá em edições subsequentes.(1)
Lisboa, 22 de Setembro de 1975
ORLANDO NEVES
continua>>>Notas de rodapé:
(1) Um grande atraso na produção técnica deste volume trouxe, como consequência, uma aclaração de certas posições expressas nesta nota introdutória. O VI Governo parece ter-se definido de uma vez para sempre como um governo defensor de uma política direitista, regressiva e repressiva das lutas dos trabalhadores com o PS e o PPD dominando-o clara e quase desesperadamente e o PCP e as forças válidas de esquerda demarcando-se rapidamente dele. Em Outubro e nestes começos de Novembro outros textos se tornaram importantes. Entendeu-se que eles não prejudicavam a compilação deste volume e, de qualquer modo, serão material para um próximo III volume Lisboa, 8 de Novembro de 1975 — ON (retornar ao texto)
| Inclusão | 30/04/2019 |